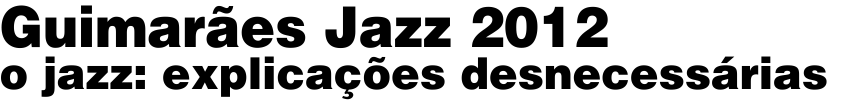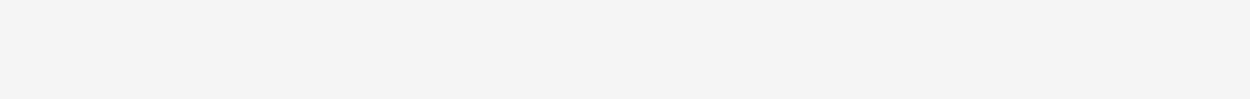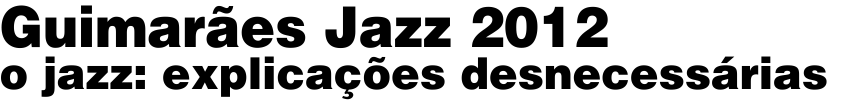AUTOR: IVO MARTINS
EDIÇÃO: Jornal Guimarães Jazz #7 - Câmara Municipal de Guimarães/ Associação Cultural Convívio/ A Oficina DATA: Novembro de 2012
1.
“A alegria de reconhecer é muito grande, todavia, a alegria de conhecer pela primeira vez aquilo com que tantas vezes se sonhou não é o menos e a primeira, obviamente, depende da segunda” (1). A música é o elemento ideal de procura desse lado emocional que não se domina e que surge inexplicavelmente no encontro com o sonho, um espaço de grande alegria ou de grande tristeza. Trata-se de um confronto entre o interior e o exterior, que só se completa totalmente depois da morte. Esta espécie de acerto final de contas fornece-nos um momento fugaz, e no entanto suficientemente forte, que nos orienta no labirinto das múltiplas experiências possíveis de descoberta da arte e, neste caso mais concreto, do jazz.
2.
Desejamos situar o acto criativo de outrem, ou o nosso, de acordo com o movimento e o significado que nele se apreende – o sentido da vida. “O sentido é atributo da vida, é a própria vida e por isso é a vida quem pode dar sentido à morte, nunca vice-versa. A morte é um silêncio, um espaço em branco, que necessita de todo o restante âmbito significativo para cobrar intelegibilidade e excelência”(2). Este encontro é qualquer coisa de irrepetível e único nas suas manifestações. A música tem essa essencial qualidade, aliás como toda a arte, de nos fornecer um sentido, uma ética ainda pura na sua essencialidade e que, por isso, não se deve confundir com o que a ela se sucedeu – primeiro o estabelecimento de uma ordem, depois o seu desenvolvimento nas leis e numa moral. Quem cria, estabelece, sempre, na sua obra uma proposta que se forma a partir da estabilização de certos e determinados elementos, mas a sua ambiguidade salva-a in extemis de ser entendida como lei. Como diz, tão penetrantemente, José Bergamim “o homem é livre quando se põe de acordo com os deuses em vez de lhes obedecer”(3). A ambiguidade permite a possibilidade da obra ser sucessivamente recriada ou reinterpretada através dos tempos, salvando-a da sua cristalização em norma. Esta característica é um fator fundamental para que a sua renovação aconteça em experiência e memória, os elementos constitutivos do mito.
3.
Interessa-nos muito mais conhecer pela primeira vez aquilo com que tantas vezes sonhamos, ou aquilo cuja existência nós intuímos apenas, do que permanecermos fixados na rigidez dos princípios e das normas que constroem as mais artificiosas prisões e inibições. Walter Benjamin deixou-nos na sua escrita imensos alertas e outros tantos avisos acerca dos perigos do poder, estruturado a partir das premissas das leis, normas, regras, etc., a partir do momento em que ele consegue penetrar ou influenciar a criação artística. Assim sendo, convém não assumir o passado como uma coisa que se fecha sobre si própria (adquirindo uma validade que se assemelha ao conceito de um poder soberano) e que, nesse sentido, neutraliza a sua extraordinária capacidade de se refazer, naturalmente e em permanência. É, desde logo, sintomática a forma como “o mesquinho substituto sintético pós-modernista para o revivalismo é a «apropriação», que normalmente significa um artista de talento limitado misturando, sem visão, referências irónicas às grandes obras do passado. (...) A cultura popular é um laboratório esplêndido para se estudar a dinâmica artística do revivalismo”(4). Este “significa o reconhecimento nascente de um elemento intemporal numa obra ou estilo que parecia datado, confinado ou limitado a um período particular. Consequentemente, o revivalismo é crucial para o processo de definição da grandeza na arte, uma responsabilidade negligenciada por demasiadas sumidades académicas atuais”(5). Narrar o passado será, neste contexto, o melhor procedimento a adotar, colocando-o sempre em aberto em relação seu conteúdo. Curiosamente, não parece ser essa a forma através da qual se olham, analisam ou são admitidas as reedições de tantas obras musicais do jazz (vide as quantidades de caixas antológicas que contêm todas as gravações de determinados músicos, secretas e não secretas, possíveis e impossíveis, numa espécie de um vale tudo comercialmente falando) a que a tecnologia hoje nos permite ter acesso, nas melhores condições de qualidade e comodidade. Razões de ordem estritamente não artística aconselharam o acto da sua ressurreição. Com esta despudorada e agressiva estratégia de recuperação desenfreada do passado, revela-se uma imensa falta de respeito por tudo aquilo que vem de novo a ser exposto sem que o seu autor manifeste o menor indício ou sinal de vontade e que também pode indiretamente prejudicar a visibilidade de todas as excelentes realizações que atualmente o jazz e os seus músicos continuam a arriscar e a esforçar-se em produzir. Não é, pois, de estranhar que muitas das análises que presentemente aparecem nas diversas publicações adquiram uma perspetiva e uma tonalidade arqueológica, excessivamente retro, quando comparadas com as que têm por objeto as obras mais recentes. Detetando-se com facilidade, desta forma, um défice em relação às situações que estão a acontecer no presente. Deve-se ter em consideração na análise deste tipo de fenómenos dois importantes aspetos que ajudam a denunciar estes simulacros de exumações, completamente arbitrários e excessivos, quando se verifica o ressurgimento instantâneo de numerosos registos musicais, oriundos das mais diversas origens, por vezes com um estatuto extremamente, duvidoso - legais, ilegais, piratas, privadas, pessoais - adquirindo, por isso, uma imagem que se aproxima a uma atividade com qualquer coisa de macabro, induzindo um incómodo sentimento de profanação e o ambiente geral e obscuro de um cenário de tráfico contrabandista.
4.
Queremos centrar a maior atenção no acto (neste caso de fazer música) e na sua potência. “Em Aristóteles, de facto, se, por um lado, a potência precede o acto e o condiciona, por outro lado parece estar essencialmente subordinada a ele”. (...)“Aristóteles tem o cuidado de insistir na existência autónoma da potência, no facto para ele evidente de que o tocador de cítara mantêm intacta a sua potência de tocar mesmo quando não toca, e o arquiteto mantêm a sua potência de construir mesmo quando não constrói”. Por isso, para que a potência não desapareça sempre imediatamente no acto mas tenha antes consistência própria, é preciso também que ela não possa passar ao acto, que seja constitutivamente potência de não fazer (fazer ou ser), ou, diz Aristóteles, que ela seja também impotência (adynamia)”. Mas como pensar, nesta perspetiva, a passagem ao acto? Se toda a potência (de ser ou fazer) de tocar é também, originariamente, potência de não (ser ou fazer) tocar, como será possível a realização de um acto? “A resposta está contida numa definição que constitui uma das provas mais agudas do seu génio filosófico e que, como tal, foi muitas vezes mal compreendida: «É potente uma coisa para a qual, na passagem ao acto para a qual se diz que ela tem a potência, nada será que não possa também não ser» (Met. 1047 a, 24-26)”(6). Donde resulta que todos os registos publicados dos atos passados nada resolvem relativamente ao seu outro lado do não fazer. Somos obrigados a admitir que a obra gravada é, neste contexto, sempre um denominador mínimo de análise, se colocada em confronto com tudo o que foi tocado, improvisado por um músico de jazz no decorrer da sua atividade e porque não criado durante toda a sua vida. “E soberano é o acto que se realiza suprimindo simplesmente a sua potência de não ser, deixando-se ser, dando-se a si próprio”(7).
5.
Quando, com insistência, se fixam as análises em determinada época, transformamos uma parte delimitada no tempo, com todas as suas contradições, contingências e acasos, num período cronologicamente organizado segundo preceitos que a história soube, de uma maneira, às vezes, tristemente ridícula, ser capaz de assumir e transformar em coisa certa e fiável. “Na verdade, os fenómenos da história, tal como se repetem sempre, não têm causas racionais. Dizer, como geralmente se faz, que são causados pela natureza humana equivale a um lugar-comum”. “Ensinaram-nos a respeitar certas personagens que agiram de modo tão absurdo, e até a considerá-las grandes homens. Estamos habituados a submeter-nos à sabedoria política dos nossos dirigentes e todos estes fenómenos nos são de tal modo familiares que a maior parte de nós não repara de modo nenhum quanto o comportamento das massas humanas, no decurso da história, é estúpido, repugnante e indesejável”(8). Pode-se acrescentar, em abono das conclusões referidas, que ”articular historicamente o passado não significa conhecê-lo tal como ele foi efetivamente”(9). Fica-se desde logo preso aos estímulos que dele são irradiados, como coisa estável e certa, perdendo-se outros pontos de reflexão que terão elementos muito mais úteis ao processo de compreensão e apresentam potencialidades complementares e criativas. Como disse Hegel, “o que a experiência e a história nos ensinam é que nem o povo nem os governos aprenderam algum dia o que quer que fosse com a história ou agiram segundo os, princípios deduzidos da história”(10). Será que as pessoas estão conscientes das limitações desse olhar histórico, apesar do seu horizonte parecer aparentemente inamovível? Temos as nossas dúvidas e surgem-nos, a partir daqui, com maior clareza os mais primitivos indícios de falta de liberdade, muito principalmente liberdade de pensar, que pela sua insistente e contínua repetição, se transformam em atos banais e carentes de significado, adquirindo todas características que os tornam suscetíveis de se afirmarem como parte integrante da (de mais uma) história. O narrador é, por excelência da sua função, o cronista da história. “O primado da informação contribuiu, nos nossos dias, decisivamente para que a arte de narrar se tenha tornado rara”(11). O narrador já não é mais o cronista da história e, de agora em diante, a história ganhou definitivamente o seu imprescindível e atual estatuto de nada explicar (lembramos a propósito a falta cada vez mais notada no nosso quotidiano dos elementos constitutivos do mito – experiência e memória).
6.
É interessante refletir sobre o atual significado do acto de aconselhar, que pode e deve também representar uma importante troca de experiências, sempre útil no contexto de qualquer atividade empreendedora, embora a sua eficiente aplicação dependa muito da credibilidade de quem aconselha. “O interesse prático e o conselho sapiencial fazem parte do carácter essencialmente esperançoso da narração”.(...) “Naturalmente a capacidade de dar conselhos depende da validade da própria experiência do narrador ou da sua acrisolada fidelidade à memória que conserva e que transmite. Se já ninguém confia nas suas experiências e o fatigado ceticismo abala os fundamentos da memória, o conselho converte-se em burla petulante ou na chave do desespero”(12). Citamos mais uma vez Walter Benjamin, “«O conselho, entretecido na entretela da vida, é sabedoria. A arte de narrar aproxima-se do seu fim, porque se está aproximando a extinção do lado épico da verdade, a sabedoria». O outro lado da verdade é a ciência, que não aconselha, mas legisla e contribui para apagar o enérgico traço moral que guardava a experiência vivida na lição do conto. Da sabedoria conquistada passa-se à informação adquirida”(13). Ficamos com a clara sensação de que, no momento presente, o que tem vindo a ser considerado como atividade crítica está muito longe de alcançar a validade ética e humanizante do conselho. Estamos perante atos mais ou menos mercantis, onde o comércio e a indústria, quase sempre associados a interesses empresariais são neste caso uma paródia. A obra de arte, depois de ter perdido a sua aura, com as suas sucessivas profanações, transforma-se cada vez mais em objeto de luxo, sujeito às estratégias de venda como um produto qualquer e submetendo-se a todas as práticas que nada mais pretendem do que incrementar o seu consumo. Quando tudo passou a ser colocado com a mais sofisticada habilidade à nossa disposição, pronto a ser o mais ociosamente fruído, abandona-se a grandeza ontológica da procura para passar ao acto menor e pobre do simples reconhecimento, terminando-se na completa paralisia daquilo que nos é servido única e exclusivamente para ser objeto de consumo.
Voltamos à necessidade de assegurar um espaço totalmente livre à memória e à experiência, tendo em consideração que toda a verdadeira narração, como uma forma de verdade, sendo objetiva, é, paradoxalmente, sempre ambígua. Umberto Eco, no seu livro “Obra Aberta”, estende essa ambiguidade à totalidade da construção artística, que se pode manifestar no fato de, por exemplo, uma estrutura musical já não determinar necessariamente a estrutura seguinte, isto é, já não existe um centro tonal que permita inferir os movimentos seguintes do discurso, passando a existir no plano geral uma crise do princípio de causalidade. “Num contexto cultural em que a lógica bivalente (o aut aut clássico entre verdadeiro e falso, entre um dado e o seu contraditório) já não é o único instrumento possível de conhecimento, mas aparecem as lógicas polivalentes, que dão lugar, por exemplo, ao indeterminado como resultado válido da operação cognoscitiva, neste contexto de ideias eis que se apresenta uma poética da obra de arte desprovida de resultado necessário e previsível, em que a liberdade do intérprete atua como elemento daquela descontinuidade que a física contemporânea reconheceu, não como motivo de desorientação, mas como aspeto inseparável de toda a verificação científica e como comportamento observável e irrefutável do mundo subatómico”(14). Surgem-nos, então, conceitos de elevado conteúdo provocativo (o acaso, o indeterminado, o improvável, o ambíguo, o plurivalente...) que indicam que existe um processo de rutura em relação a uma ordem tradicional que o homem do ocidente julgava imutável e que se identificava com a estrutura objetiva de um mundo. O convencional é apreciado acriticamente e o que é verdadeiramente novo é criticado com aversão, como refere Walter Benjamin. Ao contrário do acto de reconhecer, procurar possui na sua essência um movimento incessante de reformulação de uma dinâmica muito própria, a qual requer do seu protagonista muito mais do que uma assimilação simplista e acrítica. Simples no primitivismo e na ingenuidade em que são utilizados os sentidos e acrítica, no conformismo, na heterodireção, no gregarismo, e na massificação que são, precisamente, a consequência de um processo aquisitivo imóvel e repleto de elementos standards de compreensão como se de uma linha de montagem automática e programada se tratasse. A procura revela, neste contexto, inúmeros estímulos a partir dos quais é possível reconstituir sucessivas paisagens utilizando os mesmos olhares. Destaca-se pela sua profunda grandeza entre os vários sentimentos combinatórios possíveis aquilo que se pode chamar de estado de desamparo, que só pelo facto de ser socialmente julgado como sinónimo ou sintoma de fraqueza, é por isso mesmo rejeitado e dissimulado nas formas mais ridículas. Na procura tem de haver, sempre, um trabalho de luto, na medida em que ela provoca permanentes sensações de perda e de incapacidade, na presença de uma realidade totalmente inapreensível, e com a qual temos a obrigatoriedade de nos confrontar. Somos tentados a citar as palavras de Goethe: “A maior felicidade do ser pensante consiste em ter explorado o que é explorável e em venerar o inexplorável”.
7.
Outro modo de abordar a obra de arte manifesta-se pela constatação de que existe um outro lado através do qual podem passar muitas das formas de ela se situar junto dos seus numerosos destinatários. A sua afirmação pode realizar-se no meio de uma complexa rede de relações de poder. Por razões de fácil manuseamento destes sempre difíceis, queremos referir que também é razoável analisar e ter em consideração os seus efeitos exteriores, refletido nas várias tarefas que foram sucessivamente organizadas à sua volta. O poder de convencer, de persuadir, de elaborar opiniões permite, nesse sentido, formar também uma verdade. Hannah Arendt chama a esta verdade assim constituída de “verdade factual”.Ela é muito diferente, pelas fragilidades que apresenta e pelos elementos que a constituem, da verdade filosófica. Passando a explicar as suas diferenças temos, desde logo, que como “a verdade filosófica diz respeito ao homem na sua singularidade, ela não é política por natureza” (15). “ Assim, na Declaração da Independência, Jefferson afirma que «certas verdades são evidentes por si» porque desejava colocar fora de litígio e fora de debate a unanimidade fundamental dos homens da revolução; tal como os axiomas matemáticos, aquelas deveriam exprimir as «crenças dos homens» que «não dependem da sua vontade, mas que, pelo contrário, seguem involuntariamente a evidência proposta aos seus espíritos». Mas ao dizer «consideramos essas verdades evidentes» reconhecia, sem se dar conta disso, que a afirmação «todos os homens nascem iguais» não é evidente mas exige o acordo e o assentimento – que a igualdade, a ter um significado político, é um assunto de opinião, e não de «verdade»”(16). “Hoje quando quase nenhuma afirmação filosófica, por mais audaciosa que seja, será tomada suficientemente a sério para colocar em perigo a vida do filósofo, desapareceu a própria e rara oportunidade de ver uma verdade filosófica politicamente verificada”(17). Neste sentido, a opinião (suportadapela verdade factual) vale o que vale. “Não apenas as afirmações factuais não contêm princípios a partir dos quais os homens possam agir tornando-os assim manifestos no mundo, mas também o seu próprio conteúdo recusa-se a esse género de verificação. Aquele que diz a verdade de facto, na improvável eventualidade de querer arriscar vida por um facto particular, cometeria uma espécie de erro”. A opinião, atualmente associada a um processo de comunicação saturado de informações e muito contaminado de alterabilidade, tem, assim, uma esperança de vida extremamente curta, porque, para além das suas qualidades dependerem do saber e da boa-fé pessoal daquele que a dá, cuja credibilidade é garantida pela sua imparcialidade, integridade e independência, o próprio meio utilizado no processo de comunicar está em crise. Citamos mais uma vez Hannah Arendt: “Enquanto o mentiroso é um homem de ação, o que diz a verdade, quer diga a verdade racional ou a científica, nunca o é”. O poder de convencer e persuadir os outros será pois, um outro caminho, se puder ser considerado um caminho. Em Hobbes, por exemplo, encontramos um conflito entre duas faculdades contrárias, «o raciocínio sólido» e o «eloquência poderosa», sendo a primeira construída nos princípios da verdade, e a outra sobre as opiniões e as paixões e os interesses humanos que são diferentes e variáveis. Para muitos, ainda vai sendo uma escolha de certo alcance, mas, com algum tempo passado, apenas encontramos os vestígios dos objetos efémeros, vazios e insuportáveis, sem que não se verifique a necessidade da sua rápida substituição. Este é o princípio da permanente remoção dos seus estímulos, enquanto essência de um mecanismo de sobrevivência, destruindo-se para se autorregenerar. A música olhada pelo seu exterior será a representação dessa metáfora, “a serpente que se alimenta do seu próprio corpo”. Compreende-se que é, sem dúvida, mais acessível reconhecê-la do que senti-la, uma vez que esse sentir passa por ser também um gerador de incapacidades, dúvidas e angústias que nunca serão percebidos sem um esforço rigoroso e sério. Não se controlam porque se desconhecem as suas origens, essa atividade exploratória exige uma atitude despretensiosa e liberta de preconceitos. O poder, como modo de agir sobre o exterior e assente na violência das leis, é bem mais simples de suportar do que o medo; este último será terrivelmente penoso de aguentar porque vive intimamente associado a um trabalho de luto, uma procura que só é realizável através de um profundo e prolongado trabalho interior (de um autocontrole que está magistralmente explicado, no livro de Eugen Herrigel, “Zen e a arte do tiro com arco”, Assírio & Alvim, 1997). Por isso é que teremos de admitir que “Eminentes entre os modos essenciais do dizer-a-verdade (...) são a solidão do filósofo, o isolamento do sábio e do artista, a imparcialidade do historiador e do juiz, e a independência do descobridor de facto, da testemunha e do repórter” (18). Quando nos situamos numa imensa superfície em constante mutação (o jazz), somos imediatamente obrigados a perceber a imensa quantidade de variáveis objetivas e subjetivas que entre si interagem permitindo as mais extraordinárias associações, múltiplos e complexos resultados. “O homem contém em si mesmo um parceiro de que não pode libertar-se, o seu interesse é o de não viver em companhia de um assassino ou de um mentiroso”, dizia a propósito Hannah Arendt. “Ninguém se recusa a reconhecer que as tecnologias de comunicação implicam uma imaterialidade crescente das relações com os diversos mundos. Esta desrealização da permutação humana não é apenas uma ideia de ocasião, de moda; ela produz-se com a multiplicação das redes e canais, a rapidez de circulação das informações, a proliferação das imagens televisivas... Tratar-se-á de uma sociedade do vazio?(...) Uma realidade estilhaçada, fragmentária, uma realidade que não logramos apreender, já que é feita de todos os subterfúgios da comunicação. É impossível iludirmo-nos com uma «outra» realidade que nos aparece mascarada! Uma tal abstração do mundo não impede de viver as emoções, de existir, de ter paixões, uma vez que os distribuidores de sentido se mostram muito formais, não obstante o seu poder de se insinuar nos hábitos quotidianos de pensar. Conservam-se tão fictícios como as ideologias, com a falsa aparência de uma liberdade de expressão que permitirá que se acredite sempre no regresso do livre-arbítrio. (...) As tecnologias da comunicação fizeram esboroar as clássicas relações entre o sujeito e o objeto” (19).
8.
O deserto e o mar foram para nós, durante muito tempo, locais sem referências e que, por isso, acabaram por ser mitificados como lugares inumanos. A exterioridade é um lado que contém outras facilidades, permitindo que os múltiplos estímulos que daí emanam vão fornecendo condições de reconhecimento e autorreconhecimento essenciais a um sentimento de segurança e confiança que são fundamentais no enfrentar da vivência quotidiana. “A principal definição de «confiança» no Oxford English Dictionary descreve-a como «segurança ou credibilidade numa qualquer qualidade ou atributo de uma pessoa ou coisa, ou na verdade de uma afirmação». (...) Ao mesmo tempo que reconhece que a segurança e a confiança se encontram estreitamente ligadas. (...) numa situação de segurança, uma pessoa reage ao desapontamento culpando os outros; numa situação de confiança deve arcar parcialmente com culpa e pode arrepender-se de ter depositado confiança em alguém ou em alguma coisa”(20). Não deixa de ser interessante verificar como o meio onde vamos construindo as nossas relações assume cada vez mais a ausência de um lugar vazio ou, noutras situações, a presença excessiva e repetitivamente homogénea de um lugar não-lugar. Vislumbra-se, então, a primeira necessidade de se achar uma identificação no meio dos outros, para que depois se possa começar o tempo da integração através da construção da identidade. O convencional torna-se, neste sentido, um poderoso mecanismo de atração, para aí se confirmarem a nossa normalidade nos ritos socialmente aceites, representando tudo o que está devidamente explicado, normalizado e regulamentado. Mas do que, de facto, se trata é de saber reconhecer aquilo que é novo, acompanhado de todos os seus riscos, sempre diferentes e sempre insuficientes para explicar tudo. O saber pode ser entendido como uma qualquer coisa que se perde, sempre, no momento imediatamente a seguir ao da sua aquisição, perante a totalidade do saber. O difícil é, de facto, aguentar as vagas desse sentimento de perda permanente, de maneira que, perante essa verificação, consigamos ainda ser capazes de ter vontade de apreender no dia seguinte. Vivemos rodeados de tantas, insuficientes e frágeis, aproximações do que é atualmente tido como arte. O apagamento da personalidade, “O indivíduo, paradoxalmente, deve-se negar permanentemente se pretende ser um pouco considerado nesta sociedade” (21). O que significa ser, no presente, o divulgador, o crítico, o promotor, o produtor, o empresário, de um produto que é, também, comercial e no qual estão envolvidos interesses que nada têm a ver com o jazz como arte? Haverá ainda condições para manter devidamente separadas e estanques cada uma das funções enunciadas? Não existirão suficientes indícios para concluir que vão sendo instaladas no terreno informe da arte e do jazz, em particular curiosas cumplicidades e pacatas promiscuidades?
9.
Voltemos a Walter Benjamin. “Mesmo na reprodução mais perfeita falta uma coisa: o aqui e agora da obra de arte – a sua existência única no lugar em que se encontra. É, todavia, nessa existência única, e apenas aí, que se cumpre a história à qual, no decurso da sua existência ela esteve submetida. (...) O aqui e agora do original constitui o conceito de uma autenticidade” (22). Estas questões poderão ser mais um dos grandes problemas que envolvem o jazz como música improvisada, precisamente porque se prendem com o valor das suas formas de autenticidade. Os registos existentes representam uma ínfima parte de um espólio que se perdeu irremediavelmente para sempre e os suportes recuperados e escolhidos pelos avanços das tecnologias não podem cumprir cabalmente a sua missão histórica. Além disso, o número de publicações que anualmente temos acesso sofre, na maior parte dos casos, de uma antecipada formalidade, que se resume nas inevitáveis influências do acto de se gravar. O jazz tem, como nenhuma outra música ou outra arte, essa terrível falha, a da improvisação que, na sua plataforma histórica, é mais ou menos o equivalente a um crónico lapso de memória, que, a não existir, a ajudaria a resolver-se como tal. “Com os diversos métodos de reprodução técnica da obra de arte, a sua possibilidade de exposição aumentou de forma tão poderosa que o desvio quantitativo entre ambos os seus pólos tal como inicialmente existiam, se traduz numa alteração qualitativa da natureza. Nos primórdios, a obra de arte, devido ao seu peso absoluto que assentava sobre o seu valor de culto, transformou-se, principalmente, num instrumento da magia que só mais tarde foi, reconhecido como obra de arte. Da mesma forma, atualmente, a obra de arte devido ao seu peso absoluto que assenta sobre o seu valor de exposição, passou a ser uma composição com funções totalmente novas, das que se destaca a que nos é mais familiar, a artística, e que posteriormente, talvez venha a ser reconhecida como acidental”(23). Brecht dizia que, quando a obra de arte é transformada em mercadoria, temos de abandonar esse conceito com toda a prudência se não quisermos sermos nós próprios a liquidar essa função. Ela terá de passar essa fase, “não se trata de um desvio facultativo do caminho certo, pois o que aqui lhe acontece é uma modificação radical, o apagar do seu passado, de forma tal que se o antigo conceito fosse recuperado (...) não evocaria qualquer recordação da coisa que, no passado, designaria”(24). Queremos, com toda a brevidade, introduzir aqui uma palavra sobre o papel do músico, citando Eisler: «Também na evolução da música, tanto na produção como na reprodução, temos que aprender a reconhecer um processo de racionalização que se torna cada vez mais forte... o disco, o filme sonoro, as máquinas de música, tanto na produção como na reprodução da música, podem vender ótimas peças de música... como mercadoria de conserva” (24). Estas questões levantam a necessidade de situar a música por forma a eliminar os antagonismos entre executante e ouvinte e entre técnica e conteúdos “Foi, desde sempre, uma das mais importantes tarefas da arte criar uma procura para cujo a satisfação plena ainda não chegou a hora”. “A obra de arte” diz André Breton, “só tem valor na medida em que vibrem nela os reflexos do futuro”(25). E acrescentamos, “Toda a criação pioneira de procura, fundamentalmente nova, ultrapassa o seu próprio objetivo”(26). Quando uma obra tem como principal exigência provocar escândalo público, que dizer então dos limites da criatividade? “Quando se lida com os sentidos «elevados» a visão e a audição, costumamos ter atitudes típicas de produtores, não de consumidores. Contentamo-nos perfeitamente em usar o nariz por puro divertimento, mas olhamos e ouvimos para daí retirar proveito. A maior parte das utilizações da visão e da audição na vida urbana são funcionais. Até a audição recreativa pende para um fim funcional – vamos a um concerto para relaxar, para dizermos a nós próprios e aos outros que esta é a altura parar e ouvir. Muitos vão aos concertos tal como praticam desportos, como um dever (mesmo se não estiverem a fazê-lo profissionalmente).” Citação do livro de Jacques Attali – Noise: The Political Economy of Music, retirada da publicação “A Pele da Cultura” de Derrick de Kerckhove. Mas dirão que existem pessoas capazes de repudiar liminarmente qualquer tipo de sensação de escândalo mesmo quando ouvem música. Certamente que não se contesta esse direito, mas isso em nada adianta. Quantas músicas foram incompreendidas no seu tempo? Quantas obras adquiriram importância muitos anos depois dos seus autores terem desaparecido? Quantos insultos? Quantas injustiças? Quantos desacordos? Nada mudou o sentido da obra, nada diminuiu o seu significado e importância.
10.
Existem ruídos a mais à volta dos atos de produção e audição da música para que se realize uma comunicação sem perdas de percurso, num mundo onde a banalização do dia-a-dia impera com a maior solenidade. Aldous Huxley escreve: “Os progressos técnicos... conduziram à vulgaridade... a reprodutibilidade técnica e a rotativa possibilitaram uma policópia de escritos imagens (e sons). A escolarização, em geral, e os ordenados relativamente altos, criaram um grande público que sabe ler e pode adquirir material escrito ou ilustrado (e gravado). Para o disponibilizar criou-se uma indústria significativa. Mas o dom da arte é algo de raro; daí resulta... que, em cada momento e lugar, a maior parte da produção artística tenha sido de qualidade inferior. Mas hoje a percentagem dos resíduos da produção artística global é maior do que jamais... A prosperidade, o gramofone e a rádio criaram uma audiência de ouvintes cujo consumo cresceu desproporcionalmente ao respetivo crescimento demográfico e, por conseguinte, ao crescimento normal em músicos de talento. Assim permanecerá enquanto as pessoas continuarem a consumir em excesso material de leitura, ilustrado e de audição”.
11.
Discutir no presente o jazz pela ótica do ser ou não ser revela-se totalmente ao contrário aos elementos fundamentais que ajudam a compreender o fenómeno artístico. Hoje, quando se manifestam todas as formas de inquietação perante o que nos é dado e imposto em nome de um conjunto de opiniões mais ou menos consensuais e maioritárias – bastará para o efeito olhar à nossa volta e sabemos do que se trata –, é necessário manifestar, no mínimo, uma forma de inconformismo, de resistência, de rebelião, de liberdade, muito principalmente liberdade de pensar. Já não se encontram razões para discutir o que é jazz. Este tipo de análises redutoras, por dentro e por fora, levam sempre ao nada. No nada como grau zero de toda a construção criativa (ou sua tentativa) impede-se, sempre, a evolução de qualquer coisa. No território do nada é fácil estabelecer leis, basta ter poder (por exemplo, a lei do mais forte), mas ficamos centrados na construção de mecanismos para o seu controle e aplicação, deixando ao abandono a missão da atividade criativa. Como já se disse, o jazz vive dessa manifesta capacidade de se renovar, pelo que necessita de espaço livre por forma a cumprir o seu destino. “Ouvir mais é saber como encontrar o som por detrás do som, para lá do frenesi da cidade e para lá da cacofonia dos media. Ouvir mais é aprender com David Hykes e o Harmonic Choir que, sim, durante séculos obliterámos os harmónicos dos sons que suportam o significado, os únicos que sabemos ouvir. Durante séculos não conseguimos ouvir as divinas subtilezas das ressonâncias e a combinação de harmonias no meio ambiente. John Cage disse que o silêncio é a soma de todos os sons do meio ambiente. Poderia também ter dito que o silêncio está vivo. Sentir mais é o mais importante. Paracelso disse que a orelha não é uma extensão da pele, mas que a pele é, de facto, uma extensão da orelha. É evidente que, depois de aprendermos a ler e escrever, fechamos dentro da nossa pele os silenciosos conteúdos da nossa mente. Aprendemos a usar a pele como um dispositivo de exclusão. Ganhámos terror ao toque, ao contacto corporal, aos corpos das outras pessoas e ao nosso, mais do que qualquer outro. Desse modo a pele só pode doer. Precisa da proteção de camadas de roupa. O toque das outras pessoas só pode magoar. A nossa privacidade exige a proteção da culpa” (27).
12.
Pode-se pensar que este estado de coisas aproveitaria a alguém. E voltamos a dizer que existem imensas maiorias que olham o mundo. Depois claro que temos, sempre, as desculpas, dos erros do passado, a destruição e a substituição dos seus mitos; tudo se perpetua no mesmo, continuando a ser o mesmo. Bill Evans, por exemplo, certamente tocou muitas vezes melhor do que aquilo que se ouve nos seus discos. Os registos agora publicados (várias versões do mesmo tema, takes, etc.) permitem a sua reprodutibilidade, mas também contribuem para banalizar uma obra, pela insistência na possibilidade da sua constante repetição nos mais diversos contextos, muitos deles absolutamente estranhos às suas finalidades primordiais. “Certos tipos de música desaparecem num segundo. Outros permanecem uma vida inteira, armazenados nos membros, no cérebro ou mesmo no coração. Quando tocava alguma coisa que funcionava bem, acontecia uma coisa estranha aos meus ouvidos: logo depois de tocar ouvia um zumbido a ecoar no quarto como se as minhas orelhas se tivessem tornado numa espécie de radar, detetando ao mesmo tempo tudo o que me rodeava. Normalmente o meu acesso ao ruído ambiental é seletivo, não é global. Se não tenho necessidade de um som, não o ouço, a não ser que seja realmente intrusivo. Mas neste caso, era como se ter estado a tocar tivesse tornado o meu corpo num sistema de monitorização programado para detetar a expansão do ser. Conseguia ouvir mais e mais profundamente do que era habitual. Pensava ser a recompensa do músico. Não é preciso dizer que me dava um grande gozo. Aliás hoje não sei dizer se as minhas improvisações funcionavam bem por causa desta qualidade especial do som, ou se esta qualidade especial do som se devia à minha performance. Uma coisa é certa, tocar assim ajudou-me a mudar-me do modo letrado para o modo oral. Mais do que nunca precisamos disso” (28). O jazz não é uma supra-entidade administradora com um sem número de zelosos guardadores que de lá de cima “manipulam” tudo, mas uma atividade criativa que respeita a liberdade humana e que mais do que intervir nos acontecimentos ajuda o homem a encará-los e a reagir à luz da fé. O que neste momento está em causa já não é sacralizar os factos, mas encontrar um sentido e uma esperança para além e apesar desses factos.
13.
Um registo magnético, digital, tem o inconveniente de ser sempre um momento que pode ser mais ou menos feliz. Num concerto, as coisas passam-se mais ou menos da mesma maneira, a audição intensiva colocada ao dispor de todos, oferecida pelos vários processos de registo e reprodução, vai retirando a aura de uma obra que se define “como a manifestação única de uma loucura por mais próxima que seja”; mais não representa do que a formulação do valor do culto da obra em categorias de receção espacial e temporal – de novo Walter Benjamin – “É evidente que a secularização posterior de obra, afasta-a do valor do culto inicial, suplantada pela singularidade do artista ou sua realização estética na conceção do observador."
14.
“A obra reproduzida torna-se cada vez mais a reprodução de uma obra, libertando-se da sua existência parasitária do ritual”. Este afastamento faz emergir dois novos elementos indispensáveis, o artista e o público, que surgem como fatores intervenientes, ativos na sua resolução, através dos tempos e dos espaços. O disco, o concerto podem ser hoje em dia reproduzidos áudio-visualmente nos mais diversos contextos. A partir daqui qualquer abordagem sobre o seu conteúdo apresenta, desde o início, uma enorme fragilidade comparativamente à totalidade da obra, à vida do seu autor e aos seus momentos de procura. Leonardo da Vinci compara a pintura à música usando as seguintes palavras: “A pintura é superior á música porque não tem de morrer logo que lhe é dada vida, como sucede com a pobre música... a música que se esvai logo que surge é inferior á pintura que se tornou eterna como o uso do verniz”. Não deixa de ser interessante uma ideia que muitos anos depois perde consistência, por razões de ordem técnica.
15.
Mas perderá totalmente essa consistência? O que atrás dissemos revela algumas questões que se podem pôr, em face da fragilidade das suas reproduções e dos seus momentos, quando em confronto com uma totalidade inapreensível – a obra. Das perdas que representam para uma procura que se revela transcendente, logo irrepetível. E agora podem eventualmente interrogar-se sobre o que o jazz e o festival têm a ver com tudo isto. Nada, absolutamente nada; são apenas explicações desnecessárias.
(1) Fernando Savater, A Infância Recuperada, Editorial Presença, 1997, p.39
(2) Ibid. p.33
(3) Ibid. p.36
(4) Camille Paglia, Vamps e Vadias, Relógio de Água, 1997, p.423
(5) Ibid. p.424
(6) Giorgio Agamben, O Poder Soberano e a Vida Nua, Editorial Presença, 1998, p.50-51
(7) Ibid. p.53
(8) Konrad Lorenz, A Agressão, uma história natural do mal, Relógio de Água, 1992, p.247
(9) Walter Benjamin, Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política, Relógio de Água, 1992, p.159
(10) Konrad Lorenz, A Agressão, uma história natural do mal, Relógio de Água, 1992, p.248
(11) Fernando Savater, A Infância Recuperada, Editorial Presença, 1997, p.27
(12) Ibid. p.25
(13) Ibid. p.26
(14) Umberto Eco, Obra Aberta, Difel, 1989, p.84
(15) Hannah Arendt, Verdade e Política, Relógio de Água, 1995, p.36
(16) Ibid. p.35
(17) Ibid. p.39
(18) Ibid. p.54
(19) Henri-Pierre Jeudy, A sociedade Transbordante, Edições Século XXI,1995, p.76-77
(20) Anthony Giddens, As Consequências da Modernidade, Ed. Celta, 1995, p.24-25
(21) Guy Debord, Comentários à Sociedade do Espectáculo, mobilis in mobile, 1995, p.45
(22) Walter Benjamin, Sobre a Arte, Técnica, Linguagem e Política, Relógio de Água, 1992, p.77
(23) Ibid. p.86
(24) Ibid. p.87
(25) Ibid. p.148
(26) Ibid. p.106
(27) Derrick de Kerckhove, A Pele da Cultura, Relógio de Água, 1997, p.127-128
(28) Ibid. p.161