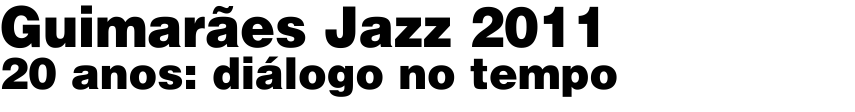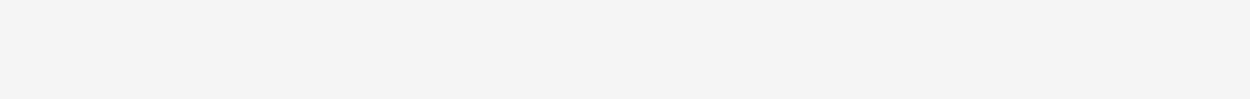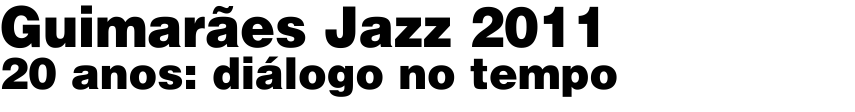AUTOR: IVO MARTINS
EDIÇÃO: Jornal Guimarães Jazz #6 - Câmara Municipal de Guimarães/ Associação Cultural Convívio/ A Oficina DATA: Novembro de 2011
No ano em que se comemora o vigésimo aniversário do Guimarães jazz, quisemos apresentar um texto segundo um modelo de escrita diferente do habitual. Ao utilizarmos o diálogo como forma de estruturação, procurámos potenciar uma subjectividade criada por duas pessoas, quando confrontadas e, a partir deste campo de actuação bilateral, desenvolvemos um conjunto de ideias que ultrapassam os assuntos frequentemente relacionados com o festival. A tipologia textual escolhida proporciona outras perguntas, formando-se assim um universo mais amplo e mais dialéctico de relacionamento que nos interessou experimentar.
Este documento, no qual participaram Ivo Martins e Manuel João Neto, está dividido em três partes, nas quais se abordam várias temáticas relacionadas com o Guimarães Jazz: a sua organização, o seu futuro, o seu público, os músicos, os agentes, os concertos, os vários tipos de influências no meio artístico, os compromissos estabelecidos e um conjunto de problemáticas de âmbito mais generalista acerca da função social e artística em que um acontecimento deste género obriga necessariamente a ponderar.
PARTE I
Nos textos que documentam o Guimarães Jazz, insistes no facto de o grande objectivo do programador de um evento como este ser a divulgação do jazz. Passados vinte anos desde a primeira edição do festival, o contexto cultural, os hábitos do público e as condições de acesso à música transformaram-se radicalmente. Até que ponto se mantém este objectivo actual, pertinente e capaz de ser reactualizado em função de uma nova matriz de produção, mediação e consumo de música?
Esse continua a ser o objectivo a alcançar, embora tenhamos consciência de que as circunstâncias mudaram, de haver hoje mais canais de acesso ao jazz, mais festivais, mais concertos… No entanto, é tão difícil lidar com o défice como com o excesso de informação, de ruído, de focos de atenção, de estímulos. No passado as pessoas organizavam-se em facções e grupos militantes, estando menos dispersas; hoje são mais descomprometidas e, em certo sentido, adoptaram uma postura nómada, em movimento permanente, impulsionadas por estímulos pontuais e individualizados. O público quer receber e experimentar, não quer situar-se num ponto fixo e inamovível do mapa, formado pelos vários tipos de consumidores ou interessados no jazz. Temos de nos adaptar a este novo “campo” de actuação, de perceber que hoje há mais leveza e menos rigidez: ouvir Mozart e música popular no mesmo sítio e nas mesmas circunstâncias, entrou nos hábitos do quotidiano. As coisas culturais existem em regimes de paridade, sem esforço de ordenação ou hierarquização, susceptível de modificar ou alterar o seu intrínseco valor artístico. A característica da cultura que nos envolve é o eclectismo. Este tópico arrasta consigo uma ideia de tolerância, mostrando uma maior conformidade com o espírito do nosso tempo – a priori nada se encontra ferido de ilegitimidade. Ninguém acredita nas valorações impostas, definidas por indivíduos que estabelecem parâmetros e convenções baseadas exclusivamente nos conceitos de alta e baixa cultura. Tudo está mais confuso, as diferenças entre a alta e a baixa cultura esbateram-se e as regras de articulação entre estes dois grandes grupos não são hoje aplicáveis. Movimentamo-nos entre uma amálgama de acontecimentos culturais, na tentativa de agir com seriedade, mantendo o mesmo discurso, porque só a nossa constância poderá fazer acreditar no carácter e na integridade das construções realizadas. Apenas o tempo nos pode fornecer as condições necessárias à concretização de um trabalho sério de sobrevivência que certifique e legitime o festival no contexto da incerteza e da alteração permanentes, assim como dos riscos inerentes ao desenvolvimento de um tal propósito. A cada dia que passa, as possibilidades de captar a atenção diversificam-se e fluidificam-se. Todas as informações, todas as ofertas, todas as procuras, podem exprimir-se. Devemos orientar as mensagens para uma gama indefinida de possíveis receptores, não monológica no seu conteúdo.
O festival é ainda a estratégia adequada para se cumprir esse objectivo de divulgação de uma música?
Como modelo de divulgação do jazz, é precisamente o formato de festival que, para nós, apresenta um maior potencial como forma de evento. Através da frequência regular dos concertos aprende-se a apreciar os vários estilos do jazz, a compreender as suas múltiplas hipóteses artísticas, a descobrir as emoções despertadas pela música, a conhecer melhor os artistas e o contexto, a sentir as intenções e os fundamentos estéticos, apoiados na leitura do jornal do Guimarães Jazz e nas diversas indicações biográficas e historicistas nele contidas. Este conjunto de informações facilita a apreciação do trabalho dos artistas, alimentando-se da crítica e dos meios de comunicação. Quando um festival de jazz não é um excelente mecanismo de difusão, jamais poderá tornar-se conhecido pois o acontecimento não tem margem para se propagar como tal – não sendo capaz de captar as atenções, não cria reputação. Assim, o que não é conhecido nunca poderá gozar de qualquer tipo de consideração, nem adquirir a menor importância histórica. O grande momento fundador do jazz em Portugal é o Cascais Jazz, pioneiro na introdução de um paradigma tornado tradição histórica, que se afirmou como veículo de excelência na propagação desta música.
Mencionaste há pouco o facto de as pessoas não aceitarem já valorações subjectivas e de autoridade que hierarquizam e legitimam simbolicamente os objectos culturais e as expressões artísticas. Essa ideia parece contrariar a tendência geral recente de sobrevalorizar o estatuto do mediador (programador ou curador). De alguma forma, por entre a turbulência geral e o excesso de informação, este fenómeno parece fazer algum sentido: o mediador surge como um barómetro, alguém que sugere uma orientação a emergir do caos e arruma o presente, pensando numa particular narrativa da História. Enquanto programador, assumes inevitavelmente esse papel, mas pareces atravessado por alguma tensão e um certo desconforto.
Neste contexto muito particular da concepção, produção e divulgação de espectáculos não acredito na pedagogia nem na sabedoria guiada e pré-programada. Apenas tento colocar um conjunto de momentos musicais à disposição das pessoas, não as condicionando a reacções pré-determinadas. Interessa-me estimular a livre escolha nas propostas do festival e que a liberdade do público seja diferente da minha. A interacção implica a separação entre a produção do espectáculo e a recepção dos bens simbólicos, comunicados pela música apresentada. Creio que devemos preservar uma opinião pública aberta às formas de emoção estética e sensibilidade artística do jazz, não submetida a critérios de comercialização e de comunicação de massas. Actualmente, a cultura entrou numa retórica fantasiosa de gestão de imagem e de opinião, em detrimento das discussões críticas, das argumentações e dos debates lógicos…
Reconheces na tua actividade de programação uma dimensão política?
Admito tal leitura, mas procuro evitar essa postura, embora saiba que a minha actividade pode ter conteúdos e significados políticos - entendendo-se a palavra política num sentido diferente, reconfigurada segundo noções de intervenção no espaço público, distintas das formas ideológicas clássicas. Antigamente, a política era conduzida por indivíduos e grupos que queriam impor uma liberdade colectiva aos outros. As pessoas teriam a liberdade idealizada por estes grupos que as submetiam a comportamentos e a formas de pensar formatadas, privando-as da expressão das suas idiossincrasias individuais e subjectivas. Este princípio era veiculado através de visões “universalistas” do mundo que estes colectivos ideológicos queriam alterar. Daqui resultaram anulações sucessivas da diversidade, transformando a realidade social num conjunto de comportamentos homogéneos e planos. A partir da ideia de esfera pública, pretende-se criar um fórum constituído por uma comunidade de seres que se reúnam como iguais e sejam capazes de produzir e reproduzir uma opinião, através do confronto de ideias. Tendo em consideração este conceito, o público activo deve construir «espaços dialógicos» que não reduzam a função das audiências a um consumismo passivo. No meu caso, não quero intervir de forma ostensiva onde os outros elaboram as suas opiniões; pretendo apenas que eles façam as suas escolhas, utilizando a sua própria liberdade e não a minha.
Com efeito, a programação do festival manifesta essa predisposição dialógica. No entanto, tens certamente a noção de que os limites desse diálogo são, ainda assim, estreitos: se uma programação tem um critério artístico definido (como o Guimarães Jazz parece ter), corre o risco de excluir possíveis participantes nesse diálogo, precisamente porque vai codificando o seu discurso numa determinada direcção. Por exemplo: existe um público específico que acompanhou e se formou musicalmente no principio do Guimarães Jazz e, actualmente, se considera, de certa forma, abandonado pelo festival, por nos alinhamentos dos últimos anos ter deixado de existir um tipo de música mais exploratória.
Esse é um aspecto possível da evolução do festival e não o sinto como uma crítica. Não esqueçamos o objecto da nossa análise: não os concertos em si, mas o conjunto de etapas percorridas, a recriação permanente do festival, conforme fomos detectando outras soluções, com a concordância das pessoas que apreciam os resultados desse trabalho - daí a importância singular do papel do público. O objectivo de cada alinhamento será transformar um concerto num processo de conhecimento e de amadurecimento intelectual, assimilável por qualquer pessoa, sob múltiplos níveis de exigência, a ser convertido em novas formas de compromisso e de cooperação. Todas as escolhas geram, por si só, dúvidas em relação ao sucesso do acontecimento e provocam uma sucessão de dilemas, associados aos fundamentos instáveis da experiência adquirida ao longo dos anos. O debate interno sobre o devir do festival e os vários modos de desenvolver outros projectos será, a curto prazo, o principal trabalho para todos nós. É importante questionarmo-nos. Temos de promover um certo grau de integração e de reconstrução das situações apreendidas, encontrando uma estratégia para o futuro – esse é o desafio a enfrentar. É possível equilibrar as diferentes facetas do festival, elevando as suas zonas periféricas ao nível das principais, fazendo-as assim confluir com o seu centro. Também poderíamos pensar em criar outros focos de atracção dentro do festival, direccionados para um público diferente (mais jovem ou mais conhecedor) do que aflui aos grandes concertos, concebendo projectos mais marginais, abstractos, conceptuais e experimentalistas. É necessário que o festival se altere, se adapte às mudanças do meio porque, lá fora, as coisas modificam-se a uma grande velocidade – para conservar é preciso mudar.
A relação de proximidade e entendimento com o público é, naturalmente, ameaçada pelo crescimento do festival e este factor pode comprometer a sua flexibilidade e abertura à mudança.
As exigências artísticas e culturais que tornaram o Guimarães Jazz uma máquina organizativa complexa, dificultam as relações pessoais e afectivas, criadas de modo espontâneo, entre os organizadores, os músicos e o público. Isto poderá ser visto como uma modificação óbvia a compensar, imaginando-se outros tipos de actuação musical, outras relações de proximidade nos vários espaços do festival. Talvez estas transformações não passem necessariamente pelo género de música a programar, porque foram sendo estabelecidos compromissos informais de estruturação programática com as audiências, tornando-se, neste momento, difícil de os abandonar ou alterar de imediato. Quem procura o jazz nunca encontra um espaço vazio. As escolhas das pessoas, consequência das suas vontades, são simultaneamente possibilitadas e restringidas pelas estruturas sociais e artísticas nas quais a sua imaginação se apoia, assim como pelos processos sociais e culturais cujo resultado é a criatividade de cada um. O Guimarães Jazz já atingiu um grau de aperfeiçoamento, complexidade e tecnicidade que lhe permitem uma projecção e uma performance organizativa muito apuradas; no entanto, esta aparente perfeição não exclui problemas futuros, se este estádio de desenvolvimento limitar os procedimentos usados pelo festival nos últimos vinte anos: discussões, aumento do trabalho em equipa, aquisição de conhecimentos e novas capacidades, níveis de empenho mais elevados, debates internos, questionamento e reflexões essenciais à sua reconfiguração e capacidade de adaptação ao meio envolvente. Todos os modelos se esgotam e devemos, como disse, estar sempre atentos e manter um espírito aberto às alterações, salvaguardando o saber fazer, entretanto adquirido e preparando-nos para fazermos melhoramentos e inflexões, redefinições de direcção necessários à preservação da identidade, ameaçada por uma estrutura pesada e complexa.
As pessoas sentem que o festival se institucionalizou e isso poderá ter provocado modificações na programação, acompanhadas pelas mutações do público, algo positivo e/ou negativo.
Não se justifica propormos uma ruptura de paradigma com a programação, começando a apresentar uma música diferente, baseada nas correntes menos comprometidas com as formas mais clássicas da improvisação. O festival procurou, desde o início, estabelecer compromissos com o seu público, relações de cumplicidade difíceis de alcançar e nem todos os tipos de jazz se enquadram no espírito que subjaz a este acordo implícito. Fixarmos a programação do Guimarães Jazz exclusivamente nas correntes mais “free” ou experimentalistas, corresponderia a um desvio arbitrário e inconsequente: o festival deixaria de ser o que é e as pessoas não se sentiriam totalmente satisfeitas com a mudança - no essencial, muito se perderia sem justificação plausível. As mudanças não devem ser legitimadas pelas próprias alterações, tem de haver mais qualquer coisa que se prenda à necessidade do festival dar respostas, de ser sensível às expectativas das diferentes audiências. Quando organizamos um festival orientado para um estilo específico, ficamos reféns das limitações óbvias desse género musical e da imagem por ele projectada. As pessoas sentem, sobretudo, que o festival mudou. Há nele uma dimensão simbólica de ritualização, algo que se experimentou e consolidou no tempo - uma seriedade nos seus critérios e pressupostos, uma componente mediática muito forte ligada à sua imagem, à impressão e à mensagem comunicadas para o exterior. Devemos ter consciência de que trabalhar para um auditório de 300 lugares é diferente de programar concertos para um auditório com 800 lugares. Isto obriga a mudanças de abordagem e a uma nova forma de olhar o evento. Há duas coisas de difícil conciliação - qualidade e muito público, sobretudo num sistema baseado no entretenimento fácil e na concorrência, inúmeras vezes, desleal. Além disso, é preciso respeitar as convenções estabelecidas na recepção da arte ou da música. Tudo seria perfeito se os frequentadores habituais dos concertos fossem profundos conhecedores de jazz, pois assim atingir-se-iam níveis altíssimos de entendimento e de comunicação e os músicos seriam mais bem compreendidos e valorizados. Dotando as audiências de uma série de linhas simbólicas de orientação, só possíveis no frente a frente entre o músico e a assistência, teríamos um conjunto de opiniões participativas em cada concerto. O público tem, na sua diversidade, várias velocidades e experiências muito distintas, sendo necessário encontrar compromissos e convenções transversais mais generalistas, sem se abdicar da integridade nem da qualidade da oferta musical.
O perfeito e simétrico equilíbrio entre essas diferenças existentes no público parece difícil de atingir. Isso implica correr menos riscos na programação, isto é, optar por projectos ou tipos de abordagens musicais mais consensuais?
Não, implica apenas ter uma compreensão proporcional e apurada das circunstâncias e dos contextos. Não se correm menos riscos, quando muito corre-se outro tipo de riscos porque, sem o seu público, o festival não teria razão de ser. Por esse motivo há alguém que, apoiado numa alargada equipa de trabalho, avalia e ajusta as possibilidades de determinado artista figurar no programa do festival, às lógicas do acontecimento. O universo das escolhas é limitado porque muitos músicos já passaram por Guimarães, porque há dificuldades de agenda, constrangimentos orçamentais, etc. A programação exige uma gestão de sensibilidades e expectativas, uma cadeia de impressões subjectivas e envolve muitos factores. O mais fácil seria escolher aleatoriamente bons projectos e agendá-los para os dias do calendário que nos são atribuídos. O programador serve para relacionar, criar sequências e semelhanças entre os concertos, organizar um alinhamento livre e equilibrado, capaz de cumprir ansiedades e expectativas, antecipando os desejos e preferências das pessoas.
A restante programação, nacional e internacional, no domínio do jazz interfere também nesse processo? De que forma e em que medida?
É inevitável considerarmos e equacionarmos toda a concorrência, as escolhas de outros festivais e as programações de jazz propostas pelas diversas instituições. Um festival define a sua identidade também em contraposição ao que existe e esta relação permite-lhe situar-se e descobrir-se no seu espaço. Devemos muito a todos os outros festivais. Poderíamos pensar, por exemplo, em programar concertos mais arriscados, projectos menos conhecidos e com abordagens estéticas mais experimentais, como uma possibilidade de desenvolvimento futuro do Guimarães Jazz, de forma a restabelecermos relações com esse público que se afastou do festival. Quando falamos de programação alternativa referimo-nos às que já existem actualmente noutros festivais e noutros contextos do panorama jazzístico português, e daí ser oportuno, como disse, concebermos a nossa estrutura de festival por oposição aos outros eventos similares. Não posso, a este respeito, deixar de evocar acções de programação de jazz, involuntariamente hostis ao Guimarães Jazz. Quando instituições fortes a intervir nesta área, com meios e poder financeiro desenvolvem programas sem regularidade e sem qualquer tipo de objectivo visível, optando por alinhamentos desordenados e obedecendo a lógicas incompreensíveis, torna-se pernicioso para qualquer festival que publicita as suas metas por escrito, justificando-as. A falta de estruturação e a irregularidade de algumas programações actuam de forma negativa, por não obedecerem a uma vinculação declarada, a um projecto ou a um conjunto de objectivos e por não apresentarem textos nem documentos explicativos que definam os pressupostos, os critérios e os fins a alcançar. Não havendo objectivos previamente definidos nem finalidades esperadas, a avaliação final torna-se impossível – tudo é sucesso (ou fracasso).
Por respeito ao público e aos meios de comunicação social que nos apoiam, todos os anos é publicado um conjunto de textos, explicando as nossas intenções e fins a atingir. Isso permite-nos estabelecer compromissos com a audiência do festival e defende-nos de interpretações e de análises futuras, algo que não vejo acontecer noutros festivais, nem noutras instituições, – domínios de responsabilidade anónima – dedicadas à programação de jazz, muitas vezes sem rosto ou discurso identificativos.
PARTE II
Um festival de jazz pode ser, hoje, mais do que só uma citação ou uma súmula do passado? Um evento com este carácter pode ou deve ter a responsabilidade de diagnosticar o presente e antecipar o futuro desta música e das possibilidades da sua exploração?
Um festival de jazz é sempre um acontecimento temático, limitado pelos enquadramentos culturais a que tem, obrigatoriamente, de se vincular. Tendo o jazz como elemento agregador, é impossível concebê-lo sem efectuarmos retornos ao passado, sem os quais é impensável imaginá-lo em termos de futuro. O passado desempenha um papel importante, assumindo-se como fonte de legitimação. Persiste uma profunda ambivalência no acto de negar a tradição porque, ao mesmo tempo que a recusamos, consideramo-la um elemento essencial de referência, na estruturação e leitura histórica desta música. O futuro não existe como entidade objectiva, a sua previsão é sempre uma hipótese em aberto. Nas sociedades cosmopolitas e nas organizações informadas, as soluções dos problemas já não são consideradas como certas, nem aplicadas como óbvias: são continuamente reavaliadas e sujeitas a críticas. O distanciamento da tradição é proveitoso pois implica que todos os formatos instituídos e aceites sejam reflexivamente postos em causa e tenham de se explicar a si próprios, expondo-se a um questionamento crítico. Contudo, é impossível prescindir da memória porque ela nos permite juntar os pedaços deste mundo disperso e fragmentado e dar-lhes uma forma coerente. O olhar retrospectivo ajuda a imaginar novos mecanismos de actuação; no entanto, se o nosso objectivo for o de apenas suscitar fáceis e imediatas adesões, promovendo o encontro acrítico do acontecimento com as pessoas, a tarefa de se delinear um futuro interessante para o Guimarães Jazz, pode tornar-se um empreendimento de difícil concretização.
Enquanto género musical, o jazz terá chegado a um ponto terminal de cristalização das suas propriedades estéticas? O jazz não poderá ser outra coisa senão a constante reapropriação e reavaliação do passado? Não tem futuro, ou tem um futuro pensável em função de uma renovação das suas potencialidades artísticas?
O jazz vai ser cada vez mais importante no contexto da arte. A questão relativa à possibilidade do jazz deter um interesse estético capaz de o dimensionar e de o fazer concorrer com as demais artes, foi colocada no passado e está neste momento ultrapassada. Actualmente o jazz possui um valor estético universal, igual a outras formas de arte musical pois conseguiu conquistar um público interessado no fenómeno artístico nele contido. Hoje, um músico de jazz pode concorrer a bolsas ou a um lugar de professor num conservatório, tocar nas mesmas salas onde se realizam espectáculos com orquestras sinfónicas e esperar que o seu trabalho tenha reconhecimento idêntico ao dos compositores ou intérpretes mais respeitados. O futuro desta música concentra-se noutros aspectos, relacionados com a sobrevivência da arte e do jazz, num meio cultural sujeito a uma grande incerteza e a um crescente risco estrutural. Temos de colocar estas questões em perspectiva e de forma mais geral. A própria sociedade tem dificuldade em se reestruturar em termos de futuro porque não há tempo nem espaço para se vislumbrar um horizonte minimamente estável e expectável, capaz de nos fornecer uma superfície regular de intervenção. A incerteza associada à modernidade recente já não pode ser gerida de acordo com padrões convencionais e institucionais que a tratam como assunto quantificável e mensurável. O desfasamento existente entre o conhecimento e o controlo é fonte de insegurança, uma ameaça fabricada extremamente complexa. Esta insegurança assenta na desconfiança relativamente ao planeamento do comum que é, neste momento, muito mais difícil realizar. Quando não há futuro também não há esperança, perdendo-se assim a energia necessária à estabilidade e à permanência de certas estruturas de cooperação, fundamentais ao apoio e difusão das artes. As coisas mudaram muito nestes últimos anos e vão continuar a mudar. Hoje, as pessoas constroem os seus próprios discursos com muito menos elementos auto-referenciais. Muitas coisas foram destruídas ou devastadas e a existência de um desvio simbólico numa sociedade cuja capacidade de experimentar já não está ligada à capacidade de enfrentar todos os problemas cara-a-cara com o outro, é uma realidade. Antigamente, o homem estruturava a sua vida num quadro de grandes narrativas, projectando as suas esperanças de mudança do mundo e as suas utopias a vários níveis (religioso, sociológico, político, económico). Todo o planeamento pressupõe a crença num futuro. Hoje em dia, não estão reunidas condições de permanência, nem de regularidade nas relações capazes de nos proporcionarem um meio saudável e constante para descobrirmos um sólido devir colectivo. Vivemos tão dentro do presente que perdemos uma das dimensões estruturantes do tempo e o passado encontra-se muito menos iluminado.
Pelo teu discurso, pareces desvalorizar uma explicação compreensiva da arte pelo paradigma das vanguardas e das rupturas, como se este esquema interpretativo não fosse, ou não pudesse ser já aplicável ao presente.
Entendo a história do jazz como percepção das suas inúmeras sedimentações através do tempo, desde os modelos praticados correntemente, (estruturas tradicionais de doze e trinta e dois compassos) até às estruturas mais livres, cuja extensão das frases e das sequências é um elemento sinalizador do nível de improvisação mais pura, resultando numa música produzida em tempo real e por isso mais espontânea e instantânea nas suas elaborações – fruto da contingência e tocada no momento em que acontece. Na música, criam-se constantemente novas formas de acção e interacção e a maneira como os músicos interpretam ou reagem ao mundo sonoro à sua disposição é reordenada. São, no fundo, novos métodos de utilizar e articular informação, actos inseridos num alargado mecanismo de transmissão cultural e artística. Há sempre um perigo simplificador, quando se colam etiquetas generalistas para distinguir determinados géneros ou tipos de jazz, ao qual acresce o facto de se passar a ideia, ligada ao carácter progressivo da era moderna, de que a cultura avança por fases num movimento linear e sequencial, num processo evolutivo facilitado pela assimilação de obras canónicas – ora, isto não é verdade. Actualmente, constata-se a reabilitação de um pensamento e de uma linguagem dos fenómenos musicais baseados nesse modelo esgotado das vanguardas. “O Novo” que muitos críticos, músicos e programadores procuram com uma ansiedade quase obsessiva é um conceito de significação arriscada e ambivalente e, enquanto programador, essa elaboração subjectiva não me interessa. O culto da novidade é o lado mais ligeiro e acessível de todas as propagandas e das muitas apologias da diferença e da inovação que caracterizam o marketing e o consumo actuais. Hoje fala-se de um esgotamento relativo à criação contemporânea, elevando-se o novo à condição de princípio. Para os antigos, a obra de arte é concebida como um microcosmos, levando a crer que fora dela existe um macrocosmos (critério universal do belo). No tempo presente, a arte é uma pura manifestação da individualidade, isto é, apenas representa um estilo singular, não querendo ser o espelho do mundo. Ela cria um mundo interior no qual o artista se move, um mundo onde nos é permitido entrar, não se nos impondo como universo comum, definidor do conceito de belo e em cada artista há uma pluralidade de mundos particulares, uma diversidade quase infinita de estilos individuais. No meu ponto de vista, a questão é: como fazer cultura na contemporaneidade?
O festival tem de se esforçar por reflectir a música feita hoje, sem qualquer tipo de barreiras ou fronteiras. Na edição do ano passado, o Charles Lloyd New Quartet e a New York Jazz Composers Orchestra apresentaram uma música desenvolvida a partir de diferentes perspectivas. O primeiro grupo apoiou-se na improvisação como modelo actuante e o segundo vinculou-se a uma intersecção do jazz com a música contemporânea baseada na composição e sem o traço da individualidade solista, claramente detectada nos outros concertos. Também a Saxophone Summit, tocou uma interpretação absolutamente livre da suite Meditations de John Coltrane; estes três grupos revelam a tentativa de abordar confluências e intersecções, possibilidades abertas de integração e de síntese sob múltiplas influências e inspirações, algo próximo do conceito de “experimentalismo”: um modo inclusivo e integrador de lidar com um presente que, ao contrário do chamado “vanguardismo”, não se baseia no niilismo radical, nem na exclusão militante dos opostos.
O free não cabe nesse espectro de “confluências e intersecções” que o festival pretende abordar?
O festival é um espaço aberto à diversidade e à divulgação da música, não havendo na sua concepção, lugar ao preconceito. Sendo um estilo igual aos demais, o free-jazz possui, para nós, a mesma importância que todas as outras fórmulas jazzísticas.
Nos nossos dias, o conceito de jazz tornou-se demasiado estreito para dar conta de todos os seus fenómenos - como sucede com variadíssimos conceitos complexos, a sua amplitude acaba por mascarar a realidade e, quando o tentamos definir, somos confrontados com inúmeras excepções, casos que apenas abarcam alguns dos seus critérios enunciados e não abrangem todos os atributos estabelecidos para a sua inequívoca classificação. Este problema leva a afirmar que para se produzir juízos de valor sobre o jazz é necessário encontrar um limiar mínimo de identificação, forçosamente arbitrário. Contudo, o free-jazz é, ao contrário do senso comum, mais convencional e pró-tradicional do que aparenta. As diferenças entre os vários tipos de jazz operam-se segundo convenções distintas das do jazz clássico considerado como cânone, libertando-se da cadência do fraseado e do ritmo forte, marcado por compassos definidos do swing, por exemplo. No fundo o jazz, o free-jazz e os outros tipos mais recentes desta música não têm a radicalidade que muitas vezes lhes é atribuída, quando comparados com outras experiências musicais do início do século XX, como as de Charles Ives, Harry Partch ou de John Cage. Estes músicos compunham o som no limite da sua executabilidade e possibilidade de difusão – usavam instrumentos preparados e inventados, partituras com anotações exteriores à própria linguagem musical, atingindo níveis de abstracção e graus de emoção muito fortes, coisas verdadeiramente inovadoras que aumentaram a amplitude da sua expressão artística. Gostaria de, a propósito, citar Nietzsche: “A arte é a mais elevada potência do falso, ela magnifica o “mundo enquanto erro”, santifica a mentira, faz da vontade de enganar um ideal superior”. À primeira vista, ler-se-ia nestas frases a vontade de subversão relativamente à ideia de verdade, inscrita na gramática textual e na sintaxe aforística utilizada. Todavia, a subversão está longe de ser tão profunda como à partida se imagina, tratando-se de uma “verdadeira” concessão clássica a essa mesma ideia de verdade que aparentemente se pretende negar. Resumindo, nem sempre a exuberância da forma permite a interpretação imediata da substância do conteúdo.
Como caracterizarias então o lugar e a relevância do jazz no contexto da história da arte e da música do século XX?
Há algumas mitologias associadas ao jazz e uma delas é a de que o jazz descobriu a improvisação. A improvisação era uma prática comum em compositores como Beethoven, simultaneamente intérpretes e compositores, quando interpretavam peças de outros autores. Por outras palavras, esta técnica de ampliação ou de melhoramento improvisado das composições existe na história da música, de forma autónoma, desde muito antes do aparecimento do jazz, embora o traço distintivo no jazz seja o facto de ter utilizado a improvisação enquanto acto de composição não-escrita, criado em tempo real e num quadro irregular e não-convencionado, tornando esta música muito maleável e submetida a permanentes reinvenções e reinterpretações – algo procedente de elevados índices de liberdade e exploração descomprometida, não adoptados por outras linguagens musicais mais eruditas. No jazz a improvisação expande-se, deixando de existir a distinção entre o que é composto e o que é improviso. Este factor associado às suas raízes culturais diferentes das músicas europeias e a uma marginalidade intrínseca, – era executada preferencialmente por negros e músicos que, tocando instrumentos europeus, não podiam actuar em salas de orquestra – faz do jazz uma estética relevante. O compositor Edgard Varèse dizia “o jazz não é a América, é um produto negro explorado por judeus”. Muitos músicos negros com formação clássica desempenharam papéis significativos nos primórdios do jazz, desmentido assim a ideia simplista e racista de que esta música era uma forma puramente instintiva e iletrada. Impressionante é o facto de uma música destas, tão específica e vinculada a culturas e valores singulares e muito localizados, ter conseguido atingir um estatuto universal, ao ponto de ser uma linguagem usada por músicos vindos de contextos tão desfasados dos da sua origem.
Para concluir, o jazz é mais importante enquanto fenómeno artístico e social do que propriamente enquanto ruptura estética e inauguração de uma nova linguagem musical?!
O jazz está indelevelmente ligado às grandes mudanças sociológicas do século XX: a grande metrópole, a sociedade de consumo, a evolução dos transportes e dos meios de comunicação social, as novas técnicas de produção de espectáculos, os avanços tecnológicos, a cultura urbana, as grandes migrações e a mobilidade dos cidadãos, a “crioulização” global do mundo e das culturas, a massificação e consagração do cinema enquanto arte, etc. Se pensarmos que o atonalismo surgiu no início desse século, tendo sido precedido pelas primeiras experiências com a utilização de dissonâncias, compreendemos como, ao nível da inovação dentro da linguagem musical, o jazz chega tarde. Há uma retracção no seu tempo histórico. O mesmo paradigma pode aplicar-se a outras matérias da história da arte: o cinema chega tarde em comparação com a pintura e as artes plásticas em geral – o primeiro quadro abstraccionista data do início do século. Dadas as suas características particulares, a fotografia, o cinema e o jazz surgem como abordagens representativas de um tempo e de uma época de avanços tecnológicos e mudança da paisagem social, política e urbana e isto acrescenta-lhes conteúdo e credibilidade, apesar da sua juventude. A velocidade do seu desenvolvimento, implantação e reinvenção, ao longo de pouco mais de um século, adquirem relevância, quando comparados às outras manifestações artísticas. Embora tenha surgido como um formato, o jazz elevou-se a uma dimensão universal – dialoga desde o seu início também com as outras músicas e, em certa medida, inscreve-se numa continuidade em relação a elas. Porém, não podemos atribuir-lhe as características de inovação e vanguarda quase transcendentais que normalmente se lhe atribuem, contribuindo para a sua particular mitologia. Curiosamente, serão os compositores afro-americanos a apropriarem-se do material europeu, introduzindo-o nos blues e no jazz por eles inventados. Por isso, tentar engrandecer o estatuto do músico de jazz, invocando-se a sua melhor obra e fazendo-se comparações com a música clássica, equivale a negar-lhe a sua legítima parte de originalidade. É necessário possuir-se uma noção ampla da história da arte para se evitarem os excessos e a glorificação quase sagrada do jazz – deve atender-se ao facto de já se ter descoberto muita coisa e de já se ter experimentado quase tudo, pelo que se exige uma relativização e um realismo no modo como entendemos os fenómenos artísticos, sem nos atribuirmos demasiada importância e sem fazermos julgamentos definitivos acerca do mundo. Não me interessam visões parcelares ou “especializadas” das coisas; gosto da confrontação de pontos de vista diferentes, da multiplicidade de interpretações e, talvez por aí se entenda a minha percepção desta música - é uma das mais interessantes da modernidade, embora se tenha manifestado tardiamente em relação às vanguardas do último século, não por incapacidade mas pelas suas condicionantes temporais.
No livro Go, de John Clellon Holmes, diz-se acerca do jazz, ter surgido na segunda metade da década de 40 e nos anos 50: Neste jazz moderno, eles ouviam qualquer coisa rebelde e sem nome que falava com eles, e as suas vidas encontraram nele, pela primeira vez, o seu gospel. Era mais do que uma música; tornou-se uma atitude perante a vida, uma forma de andar, uma linguagem e um hábito… Esta ideia parece sintetizar a tua perspectiva de música que capta o espírito e a voz de um tempo, reflexo de um mundo novo (a grande metrópole e a emergência da paisagem urbana, a militância política dos direitos civis, a descoberta da liberdade individual, a experimentação artística tornada imperativo e fundindo-se no quotidiano). Observas nos músicos mais novos um desfasamento entre a música que tocam e o seu tempo histórico, como se tentassem resgatar um tempo e um mundo perdidos – um revivalismo nostálgico?
Há uma vivência num músico dos anos 60, impossível de ser repetida ou replicada e esse tempo é irrecuperável. O passado não foi nem tão bom nem tão mau como supomos. Se olharmos para trás com um sentimento nostálgico nunca lidaremos bem com a realidade presente e julgaremos ingenuamente que o nosso mundo é melhor em tudo. Não podemos voltar atrás e o passado será diferente do presente. Pior que todas as visões saudosistas é esquecer o passado, fazer dele um vazio sem história. Nunca iremos encontrar um mundo unívoco e evidente, mas uma pluralidade de mundos particulares em cada artista, expressa num mosaico quase infinito de estilos individuais. A obra passou a ser definida pelo próprio artista como uma extensão de si próprio, um projecto pessoal particularmente elaborado, deixando para um plano secundário as questões da procura e da descoberta da verdade. O elemento distintivo da contemporaneidade não é certamente o facto de as obras revelarem menos talento que as do passado. A ambição da arte mudou. Eventualmente, numerosos artistas aspiram manter, através da sua obra, uma relação com a verdade, mas já não desejam descobrir o mundo, tendo de coexistir com miríades de artistas cujas pretensões serão muito diferentes das suas. Quando tal acontece na arte não se revelam valores universais ou critérios éticos referenciais, mas uma profunda intersubjectividade individual. Isso também se manifesta em coisas tão simples do nosso quotidiano como o urbanismo e a configuração das cidades, a ausência de espaços comuns onde se activem relações comunitárias e de proximidade, o convívio entre pessoas diferentes, a partilha de experiências. É difícil antever o que os músicos contemporâneos podem fazer com esta mudança. Verificamos nos discos de jazz editados este ano que há de tudo: do swing ao free, até às formas mais abstractas e conceptuais de interacção entre instrumentos tradicionais, improvisações com máquinas e tecnologia. Estamos a assistir simultaneamente a revivalismos e avanços de todo o género, exercícios altamente conceptualizados e não vividos em directo: são gestos laboratoriais, executados com base no conhecimento distanciado, numa espécie de auto-desdobramento da ideia de jazz através do tempo. Hoje, a música dispõe de meios de difusão como nunca dispôs e isso funciona entre opostos: se, por um lado, acedemos mais facilmente às coisas, por outro, corremos o risco de banalizar esse acto pela facilidade de acesso e pelo excesso de oferta proporcionada pela comercialização da música em massa. É fácil aceder a um concerto no La Scala, pela Internet ou em disco, mas esse formato não nos dá uma experiência equivalente à de estarmos realmente lá, face a face com esse momento, porque nos falha o contacto sensorial, um frente-a-frente vinculativo das várias trajectórias que as pessoas seguem, no decurso das suas vidas.
Pareces descrente da hipótese de o jazz algum dia vir a atingir o grau de relevância artística que atingiu desde o seu início até aos anos 70… No entanto, a história, e em particular a história da arte, nunca é monolítica, a sua narrativa nunca é unívoca.
O que disse antes não implica avaliações de qualidade entre o presente e o passado: o jazz insere-se numa corrente de conhecimentos acumulados que atravessa a história e a música e é uma manifestação recente de um processo de sedimentação cultural com milhares de anos. Comparar o estilo de um músico jovem com, por exemplo, o de John Coltrane equivale a um exercício negativo; é destrutivo, desqualifica o músico e desvaloriza o seu esforço, negando-lhe a hipótese da sua existência. Ninguém conhece exactamente os limites de uma arte, seja ela qual for, tocar saxofone ou pintar. Devemos estar disponíveis para saber ouvir e receber um músico melhor ou não que John Coltrane. No caso de tal músico aparecer conhecer-se-ão outros limites, até então considerados inultrapassáveis. A história não é uma construção monolítica porque há muitos dados disponíveis, muitas vezes contraditórios entre si. Também há muita informação perdida (refira-se o exemplo da biblioteca de Alexandria – será possível imaginar o contributo para a cultura ocidental se as obras não tivessem sido destruídas?) Hoje, há demasiada informação por aí e grande parte dela vai desaparecer completamente, no futuro. A grande questão do presente é saber se se arquiva ou não. Actualmente, o excesso de dados coloca-nos o mesmo problema que a escassez de informação disponível nos colocava há uns anos. Temos de saber seleccionar e tentar, a partir daí, construir a nossa narrativa, por mais fragmentada e incompleta.
PARTE III
Como interpretas as consequências das recentes alterações no campo musical (da indústria discográfica, do mercado de artistas e concertos, dos sistemas de mediação crítica,…)?
As pessoas têm uma tendência natural para a regularidade e para a padronização dos seus comportamentos, por isso fazem constantes adaptações às vinculações e circulação de interesses. A indústria discográfica tradicional está em crise, mas vamos esperar pelo que vem a seguir. Não podemos continuar na lógica do vinil ou do cd para sempre. O desenvolvimento tecnológico e a desmaterialização e miniaturização dos formatos provocam alterações de paradigma, mas as lógicas comerciais e controlo dos meios de produção musical permanecem: o circuito dos concertos teve um aumento exponencial. Cada vez há mais mercado e isto faz mover os interesses vigentes na área das artes em geral e da música em particular. Todo o trabalho artístico, tal como a actividade humana, envolve um conjunto de agentes, dispostos numa conjugação cooperante que ajudam à concretização da obra de arte. O grande problema do músico e a sua grande angústia é o perigo de, a dada altura, se tornar uma emanação de alguma coisa que já não existe: há tantos intermediários e tantos elementos estranhos ao círculo estritamente artístico que, a partir de um certo ponto, o artista deixa de ter existência real no sistema e a sua música torna-se um produto secundário. O risco será o músico transformar-se num agente comercial planetário; o processo de comercialização é o mesmo e válido para o jazz, para a erudita e para a pop.
Mas não será esse o cenário inevitável de existência da arte numa era de “globalização”? Não será esse o custo a pagar pelo facto de a arte se ter autonomizado, não só enquanto linguagem e vocabulário não subordinado a nenhum outro regime de conceptualização do real (económico, religioso, político, etc.), mas também enquanto sistema, com as suas regras, hierarquias e modelos de funcionamento?
Há um documentário recente intitulado A Dança – Le Ballet de L’Opera de Paris, Frederick Wiseman, 2009 que nos mostra a verdadeira amplitude e as emanações desse sistema, as suas vinculações, os seus compromissos, a negociação implícita na sobrevivência assente no fazer artístico e, no meio disto, coisas profundamente humanas. Nele vê-se, por exemplo, os mecenas da Opera (Garnier) de Paris a transformarem num espectáculo o trabalho sério e dedicado, grandioso até, dos bailarinos, dos coreógrafos e de todos os técnicos envolvidos na produção, pois assistem aos ensaios e a todo o trabalho logístico, como se estivessem a contemplar uma paisagem paradisíaca da natureza, na era da sua reprodução turística. As pessoas têm um fascínio quase mórbido pelo privado, pelo reservado, pelo lado secreto dos bastidores da arte. A Opera de Paris, assim como as suas relações com o público tornam explícito o carácter simultaneamente grandioso e perverso do trabalho artístico, bem como do sistema, com o qual os artistas têm de conviver. Não tenho solução para este problema, nem propostas alternativas a este funcionamento, mas também não é esse o meu papel. Grande parte dos artistas entrega-se a máquinas poderosas de produção e quando se deixam aprisionar, o que deles resta é uma mera assinatura. No final, eles são mais uma parcela insignificante daquela imensa estrutura. Entre as respostas às solicitações do mercado, o grande dilema é, como sempre foi, conciliar o trabalho com estas outras dimensões do mundo artístico.
Não existirá nessa tua perspectiva um excesso de idealismo, uma ideia profundamente optimista e eticamente exigente de que é possível ao artista manter-se à margem do sistema, recusar todas as suas lógicas, subordinações e dependências – no fundo, ser incorruptível e irredutível na sua dedicação ao valor artístico?
Não. Tenho uma noção muito crítica e apurada desta dificuldade. Um artista como Francis Bacon não pôde fugir ao circuito comercial dos museus e das galerias, mas não foi completamente engolido por ele, tendo conseguido manter uma margem de liberdade expressa na sua obra; além disso, viveu toda a vida no seu exíguo apartamento, trabalhou sempre no mesmo atelier e esbanjava dinheiro no jogo. Havia nele um sentimento de desdém pelo valor do dinheiro, uma recusa marginal das normas do mercado. Os artistas têm de encontrar estratégias de relacionamento com o contexto, fórmulas de defesa que os resguardem dos interesses e da contaminação dos valores alheios ao artístico, sob pena de se tornarem extemporâneos e “quixotescos”. Contudo, é preciso saber correr e gerir os riscos de incompreensão e saber resistir. Os artistas encontram diferentes maneiras de resolução deste problema, dependendo dos seus espíritos; a dissemelhança na sua postura pode ser enorme e é independente da sua genialidade. Há várias formas de lidar com o reconhecimento, com a ambição de poder, com a fama, com o sistema e com o trabalho artístico e essa diferença nem sempre interfere com a relevância, nem com importância da obra. Esta situação verifica-se em todas as manifestações do capitalismo, mas a arte joga com valores intangíveis. O artista deve vincular-se ao legado dos que o precederam e lhe abriram caminhos de criação; no entanto, não são os únicos a colaborarem na vertente comercial do meio artístico: as próprias instituições se entregam a esta prática: as universidades, os museus, os críticos…
Achas que a programação do festival, ao longo dos últimos vinte anos, reflecte uma evolução na tua relação pessoal com a música?
Não, a minha relação com a música é pessoal e intransmissível. A minha história perde, em termos públicos, todo o seu interesse, a partir do momento em que temos o privilégio de encontrar a subjectividade e a intimidade de pessoas capazes de sondar mais longe, mais profundamente o espaço da experiência, da sensibilidade e da consciência dos seus contemporâneos. Aprendi, com o Guimarães Jazz, a perceber a música através dos outros e nesta relação determina-se a dimensão fundamental de um festival como este. A história deste acontecimento reflecte a evolução da minha percepção relativamente à música porque eu a penso sobretudo em função dos outros e não apenas de mim próprio, do meu gosto pessoal. Sinto grandes dificuldades em agir de acordo com uma visão dirigente ou dirigista. As melhores aprendizagens são as que exploram as suas próprias limitações e relevam do tempo dedicado a descobrir novas coisas. Também aprendi que as pessoas entendem e são sensíveis a um trabalho artístico expresso numa música forte e de qualidade.
Então o que é que define uma boa música ou um bom concerto? Serão os critérios de “seriedade” e “honestidade” pertinentes para a avaliação de um objecto artístico?
Não é fácil responder a essa pergunta. Cada acontecimento musical inscreve no ar a exploração interior de um artista e faz dessa experiência um monumento, um testemunho desse momento essencial. A obra é um túnel, através do qual os indivíduos comunicam e partilham um saber, um conhecimento que desperta. Toda a nossa história é criação e o acto de ajuizar é, por vezes, tão dispensável quanto abusivo, relativamente ao profundo significado humano, nela contido…
E os concertos? Enquanto programador, tens de fazer sempre essa avaliação.
Num concerto há condicionantes importantes que não conseguimos controlar. Um músico pode tocar muito bem, mas tem de saber gerir a sua presença em palco, perceber e sentir a pulsação da plateia e não se deixar enredar em situações que nada têm a ver com a sua arte. Poderá ser virtuoso e grande instrumentista, mas tem de possuir a competência necessária para estabelecer entre si e o público, uma conexão equilibrada e saber evitar a armadilha dos aplausos fáceis e da vontade participativa da audiência na recepção da sua música. É precisamente devido ao facto de o músico e os espectadores terem vivências e experiências comuns que a música tocada suscita emoções fortes e excessos de adesão, competindo ao primeiro não deixar que a assistência interfira de forma deliberada na sua arte. Os artistas conseguem ser muito precisos na previsão das reacções das audiências porque o processo artístico obedece a convenções. No acto de tocar há um trabalho físico e mental e, neste sentido, o músico é sempre responsável pela sua relação com o público. Quando a ligação entre o intérprete e assistência ultrapassa o plano musical, o concerto transforma-se em puro espectáculo, numa manifestação egocêntrica e resvala perigosamente para o entretenimento e o exibicionismo, deixando de ser um acto de cultura para passar a ser um momento de apoteose e de empolgamento sem sentido, artificial e gratuito. Se puder, o público canibaliza os músicos, tenta participar no concerto como parte activa e actuante, afastando-se da possibilidade de experienciar e sentir, de modo contido e reflectido, o talento e a imaginação de um grande artista. Saliento a popularidade dos artistas planetários, gente mundialmente famosa que arrasta atrás de si multidões. Sendo uma característica da cultura contemporânea, este fenómeno decorre do apetite das audiências pela trip colectiva, pela viagem de consciência comunitária - as multidões tendem a manifestar um desejo tanto mais intenso, quanto mais se alarga a comunidade susceptível de viajar em conjunto, à escala do planeta, não havendo nesta relação grandes preocupações estéticas. O meu papel é somente tentar perceber as dificuldades e idiossincrasias de um músico num concerto do festival e as dinâmicas que sobre ele podem ser desencadeadas por pequenos acontecimentos aparentemente sem importância. O sucesso não me deslumbra porque tudo é efémero e também não me é permitido o arrependimento de ter programado um concerto, por muito mau que tenha sido: sou responsável por isso e assumo a totalidade desse fracasso. Às vezes é mais difícil gerir um concerto bem-sucedido que um mau concerto. O ideal será as coisas acontecerem sem submissão mútua entre o músico e o público.
Num músico de jazz é mais importante a sua capacidade técnica ou a forma como ele transforma essa capacidade num veículo de expressão e subjectividade? Estas duas dimensões podem ser hierarquizadas desta maneira?
É o artista e não eu quem deve responder a essa pergunta. É uma questão ética, tem a ver com a autenticidade e com a verdade de um trabalho artístico - o mais importante e aquilo que distingue a arte de outro qualquer produto comercial. Por princípio admito tudo, todas as eventuais respostas a essa pergunta. Às vezes, determinado tipo de “incapacidades” gera técnicas fantásticas de execução de um instrumento. O instrumento é concebido à medida do corpo humano, baseado num pressuposto anatómico. A componente física do instrumento estabelece uma relação técnica aperfeiçoada entre o músico e as suas próteses (os instrumentos), expandindo decisivamente as potencialidades dessa relação. Django Rheinhardt, por exemplo, tocava apenas com dois dedos e a sua técnica optimizava essa incapacidade, ou pelo menos esse handicap; no entanto, não podemos deixar de nos perguntar se ele tocaria tão bem se pudesse utilizar os cinco dedos. O músico tem liberdade para adoptar formatos de aprendizagem e de abordagem à música, distintos das convenções transmitidas pelas escolas ou pelo sistema no qual se insere. Contudo, é preciso não colocar este tipo de músicos num patamar de superioridade relativamente àqueles que seguem uma via e uma abordagem musical canónica, institucionalizada e certificada. Claro que um músico com uma linguagem própria tem maiores dificuldades, porque segue modelos não certificados e não legitimados. Ele tem de lutar contra as convenções e esse confronto é, por vezes, a legitimação artística da sua prática. Não é o simples facto de ser anti-sistema que justifica a sua valorização, é imprescindível ter-se em linha de conta as qualidades intrínsecas da sua música.
A música tem mais dificuldades em relacionar-se e estabelecer conexões com o mundo exterior do que, por exemplo, as artes visuais ou a literatura?
A música é uma linguagem muito abstracta e obriga a conhecimentos muito aprofundados. Iniciou-se pelo processo de imitação dos sons da natureza e, a partir daí, a sua história estende-se desde o aparecimento dos primeiros instrumentos e aperfeiçoamento das técnicas do seu uso até à descoberta dos sons das diferentes escalas. Um concerto é um momento de cristalização de experimentação milenar e de prática musical. A beleza de um instrumento revela-se através da garantia de constância e de regularidade sonoras, confirmadas pela sua previsibilidade tonal. É por a música ser tão abstracta que apresenta um potencial tão vasto de comunicação. A literatura assenta na tradição oral, sugerindo o seu aparecimento como uma emanação intrinsecamente musical, sobretudo na construção poética (rimas, versos, cadências, ritmos etc.) – elementos estes que ajudam à sua memorização e, por consequência, à facilidade de transmissão oral, cujo fundamento está na música e no jogo entre o som e o silêncio. As palavras são essencialmente núcleos sonoros compostos por anexações e justaposições de sons que suscitam uma predisposição natural do ser humano para a música. A emancipação da linguagem musical é estimulada pelo facto de o homem ter deixado de ser o propagador físico do som, tendo sido substituído pelo instrumento, um artefacto técnico que permite obter sons mais complexos, não reproduzíveis pela voz ou pelo gesto humanos. O homem passa a ser apenas um executante e a música fica dependente da sua capacidade técnica. Aceitando a música, na sua origem, como uma forma de mimetismo dos sons da natureza, conclui-se que tudo pode ser música, uma linguagem de amplitude quase infinita. Assim, é legítimo explorar todo o tipo de sons, pois faz parte da experiência humana.
Qual é a tua visão acerca do papel de um músico ou de um artista, o seu específico “trabalho”?
A relação de um músico, um artista ou outro indivíduo qualquer com o seu trabalho é matéria da sua inteira responsabilidade e para o desenvolver levanta-se-lhe a seguinte questão: como exprimir a sua música, a sua arte, o seu pensamento ou a sua moral, fazendo-os chegar aos outros, de forma a suscitar neles uma reacção compreensiva? Esta interacção envolve estudo, processos criativos, etc. Precisamos de muito empenho para garantirmos um lugar nos arquivos da história e, para isso, temos de encontrar estratégias de inscrição do acontecimento no tempo e da sua influência no meio. Tudo está inscrito no cosmos, enquanto imagem: tudo o que fazemos está a ser propagado e paira num lugar remoto do tempo e do espaço, mas ainda não dispomos de conhecimento científico ou de um instrumento tecnológico capaz de extrair do universo a nossa imagem, fixando-a num arquivo cósmico qualquer. Estamos a receber imagens e luzes de estrelas que já deixaram de existir há milhares de anos. Há um fenómeno de refracção paralelo ao das nossas imagens, projectadas no sentido inverso ao das estrelas, registadas nesse imenso arquivo do universo, algo não muito afastado da ideia de existência pós-morte. Este é o nosso problema fundamental e, por inerência, de qualquer músico ou artista: como nos projectamos no mundo e qual a permanência dos nossos vestígios nos ficheiros universais, sejam quais foram as autoridades oficiais no comando (religiosas, políticas ou cósmicas e astrofísicas)?