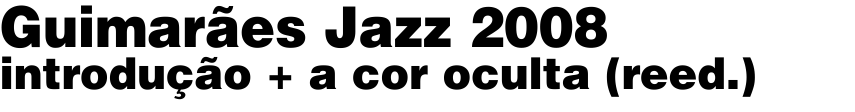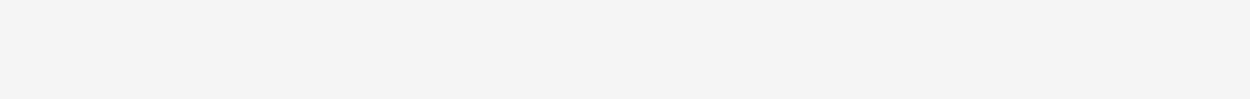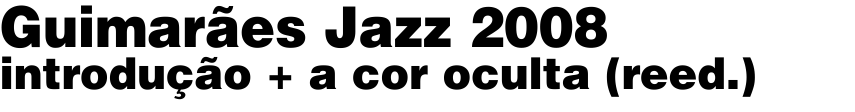A COR OCULTA
Não é o branco o que suprime a escuridão?
Ludwig Wittgenstein
No princípio todos tinham a noção de que a música passava além dos seus próprios limites. Depois ficaram circunspectos, reflectindo sobre muitas das ideias que deram origem às suas fantasias. Foram surpreendidos ao começarem a utilizar coisas tão simples, conseguindo com isso abalar a segurança das velhas construções académicas acerca da arte e da música. Sabia-se como as actividades artísticas glorificavam o sagrado e exprimiam um sentimento abstracto do sublime, fonte intocável de todas as inspirações criativas, mas ninguém era capaz de prever que alguma vez seria possível fazer-se uma síntese tão eficaz sobre um espaço sonoro, partilhado por tantas e tão diferentes culturas. Desconhecia-se até que ponto as inúmeras ameaças sobre as manobras de criação continham o grau de desarranjo suficiente para poderem causar rejeições e confrontos, no seguimento de cada descoberta. Entendeu-se que o verdadeiro progresso na área do saber só se consegue através do acto de pensar e que as convulsões provocadas por muitas das histórias contadas, nunca foram verdadeiramente desejadas, sendo apenas um efeito colateral de uma cultura racista cheia de dúvidas, num estado de avançada decadência.
Tivemos de deixar todas estas preocupações circunstanciais para entendermos os pormenores que influenciaram os momentos presentes do renascimento do Jazz, em cada época. Sabia-se que a instabilidade e a ambivalência dos sucessivos impulsos artísticos estavam localizadas num espaço aberto à nossa frente, como campo excepcional de exploração criativa – terreno pronto a ser desbravado – após séculos de falhanços políticos e de grande azáfama cultural. A cultura sempre teve uma estranha proximidade com os fracassados e muitos artistas usufruíram de uma aura de excluídos, detendo a pouco e pouco, uma importância alternativa nos espaços marginais onde conseguiram construir fortes identidades. As ansiedades provocadas por estes seres socialmente deslocados, ajudaram a perceber o modo de aquisição das certezas existenciais sobre as suas finalidades criativas, transformando-as em formas de questionar todas as novas inquietações. Aprendemos a viver com pouco e a sobreviver entre disfarces, simulações e simulacros. A arte tem de ser realizada no meio de muitos actos mais ou menos inocentes e ingénuos, no epicentro de um estado de incerteza que na música se faz acompanhar de muitos sons. O Jazz, como forma de resistência à dominação cultural e social num país racista, nasceu de um conjunto de confrontos de afirmação cultural, sentido de forma ainda mais esmagadora depois das abolições da diferenciação legal e da declaração de igualdade. A música expande-se sorrateira entre emoções libertárias, escorregando manhosamente por entre as pessoas, ao som de um desejo libertador. O som começou a penetrar lentamente nos mais pequenos espaços públicos e privados, procurando em simultâneo satisfazer necessidades de revelação limite, capazes de pôr fim ao confronto das mais diversas formas de ambivalência e de impotência, perante um poder dominador. Aparentemente estamos assoberbados de dúvidas numa luta inglória contra o que nos cerca e pressiona, mas surpreendentemente aquilo que surge nas permanentes tentativas de interpretar e de compreender o nosso mundo, são impulsos de convergência e de aglutinação, levando-nos a atingir sínteses musicais poderosas, irradiadoras de novas separações e divisões.
Marcel Duchamp espreitou sob o toldo que o próprio tinha construído na sua nova morada e disse:
«Os happenings introduziram na arte um elemento que ninguém tinha colocado: o aborrecimento. Na pintura não se pode representar o aborrecimento. Fazer uma coisa para aborrecer as pessoas que estão a ver, nunca tinha pensado nisso! E é uma pena porque é uma bela ideia. No fundo, é a mesma ideia do silêncio de John Cage, em música; ninguém tinha pensado nisso.» (1)
Todas estas situações daqui resultantes revelam o aborrecimento das sociedades pós-industriais e remetem-nos para velhas metáforas passadas. Lembramo-nos das que nos falam das águas e da sua obsessão em atingirem o mar para, a partir daí, iniciarem a mecânica do seu próprio renascer. A cor deseja também alcançar a luz, esse elemento imaterial que lhe permite nascer no momento culminante da sua identificação – um equivalente material idêntico ao limiar máximo do conhecimento, no qual os movimentos da perfeição comprometem todos os artistas. Percebe-se como a luz e a perfeição, bem como as águas e o mar, permanecem sobre tudo o que veio do nada, como um conceito mediador e aglutinador de uma manifestação salvadora sobre o Jazz, quando este se mantivera totalmente invisível durante tanto tempo.
Todas as formas do Jazz são instrumentos de representação sociológica, destinados a viverem um espaço temporal, invadido por muitas fontes de experiência. A luz fria, assim como as matérias líquidas que, na sua busca assimiladora integram a massa impessoal e racional de todos os pensamentos, nascem da incapacidade de se estabelecerem correlações sobre muitos acontecimentos artísticos passados e presentes. O trabalho de construir uma ordem sequencial, despersonalizou a idade da música, transformando-a na condição suficiente para se fabricarem explicações cronológicas e racionais. A estruturação de todas as sequências encontradas foi incapaz de fornecer, durante muito tempo, um terreno regular para se fixarem as observações pretendidas. As mudanças qualitativas, os tipos, os géneros, os estilos e as definições aplicadas às formas de representação existentes, são um processo de domesticar o trabalho criativo, atribuindo-lhe lugares e estabelecendo-lhe uma hierarquização. Esta redefinição nada nos diz sobre a procura da universalidade na arte, nem nos capacita a ultrapassarmos o presente estado de indiferença intemporal. A história não se destina a terminar nem a concluir qualquer projecto de refinamento social e as aparentes melhorias verificadas são alterações grosseiras de circunstâncias entre épocas. Estas modificações não passam de projecções, de formas de enervamento colectivo, de acumulação das ânsias massificadoras, ao tentarem separar o inseparável e ordenar o seu fluxo avassalador. Ninguém está disposto a olhar os acontecimentos sem o brilho das grandes narrativas e consequentes destinos grandiosos. Este facto não traz graves problemas ao funcionamento mecânico da retina, nem aos mecanismos de análise, a partir do olhar. Quando pensamos nas potencialidades do nosso ouvido, podemos redimensionar o Jazz sob o olhar atento da audição e nada nos permite ter a certeza de uma observação segura, no acto repetitivo de reflectir e de pensar. Os problemas por nós enfrentados, quando escutamos uma música, são incapazes de nos fazerem reflectir de forma equilibrada e harmoniosa sobre o novo. Por outro lado, não podemos deixar de sentir o calor sensorial da cor, outro dos elementos ordenadores que simultaneamente actua como uma parte desorientadora dos sentidos porque, apesar da imensa solidão experimentada quando pensamos, existe uma comodidade vinda do gelo – um espaço pouco aprazível onde nos encontramos e isolamos. Através do prazer revelado no rasto de uma modernidade desejada, renegamos um sentimento de desilusão, sobreposto no momento experimentado pela angústia de pensarmos nas inúmeras vítimas da segregação racial e nos inúmeros genocídios dos povos explorados. Sabe-se agora, depois de terem sido anunciadas tantas ideias salvadoras, assentes num ideal de progresso nunca alcançado e após tantos anos de frustração, que a arte surge cada vez mais nítida, com uma relevância fundamental da estruturação do colectivo, dada a impossibilidade de se arranjar uma resposta exclusiva e natural acerca do problema da nossa identidade.
Jack Kerouac passou na ponte de Brooklyn. Andava a passear para arranjar apetite e lembrou:
«Don Joseph é um espantoso cornetista que vagueia pela Village de bigodinho e braços pendurados segurando a corneta, que estala quando ele toca suavemente, ou melhor murmura, é a maior e mais suave corneta desde Bix ou mais. – Pára junto da máquina de discos automática do bar e acompanha a música a troco de uma cerveja. – Parece um elegante actor de cinema. – É o grande superglamoroso Bobby Hackett secreto do mundo do jazz.
E aquele tipo Tony Fruscella que se senta de pernas cruzadas no tapete e toca Bach na sua trompeta, de ouvido, e mais tarde à noite lá está ele a soprar com os rapazes numa sessão de jazz moderno. Ou George Jones que toca grande tenor em jardins ao nascer do dia com Charlie Mariano, só por prazer, porque amam jazz, e uma vez no cais ao nascer do dia tocaram uma sessão inteirinha enquanto o tipo batia com um pau na doca a marcar o ritmo.» (2)
Se calhar por causa de todas estas histórias, fomos sentindo a presença invisível de uma espécie de desordem, elemento caótico e aleatório que acompanha o acto criativo. Existe um conceito de liberdade articulado em motivos centrais de auto-experiência, reflectida na capacidade de iniciativa e na expressividade de cada um. Esta força individual move-se juntamente com a vida e faz desviar a nossa atenção para uma espécie de novo paganismo. Buscamos a energia pessoal, um novo momento crucial de existência, passível de ser entendido na música como expressão única e indivisível, desencadeada através de sucessivas batalhas artísticas. A opressão tende sempre a originar uma resposta por oposição. Na arte realiza-se a reparação dos desequilíbrios entre as várias formas de coerção e, a partir da altura em que se desaproveitam muitas das oportunidades para encontrar uma solução definitiva e feliz, os problemas da contemporaneidade deixam de ter um happy end.
Verifica-se também que a situação actual da música após o seu registo e posterior inventariação fonográfica, transformou esta arte numa imensa narrativa. Uma ideia museológica começou imediatamente a tratar da sua própria conservação.
Procura-se assim, um final útil e necessário, sobre a hipótese susceptível de proporcionar algumas soluções razoáveis, umexit!, para um lugar que continuamos a desconhecer nasua centralidade mais profunda, onde coexistem todas as nossas heranças ancestrais, vindas do buraco aberto pela ignorância humana, dentro do qual ainda nos mantemos prisioneiros. A liberdade dos artistas vive dos momentos intuitivos de compreensão, onde não é possível encontrar a mais pequena pista ou causa colectiva do que antecede e ultrapassa toda a aprendizagem. Nada nos indica as razões que levaram os artistas a exagerar. Ninguém sabe a identidade das pessoas que provocaram todos os excessos e os transformaram em arte. A passagem descoberta através da arte surge congelada pela tentativa de escapar ao crescente afundamento no pântano primordial da criação. O instinto revelado nos momentos difíceis de concretizar, deixa atrás de si rastos de resistência, formas de superação cultural entre a razão e o medo, nesta estranha prisão planetária. Em todos os sistemas, a geometria das ideias rectilíneas e agradáveis, constrói instalações sensoriais comodistas, desautorizando o mais ínfimo movimento oblíquo e contrário, sem causar enormes sensações de dor. Os músicos continuam localizados naquilo a que poderemos chamar o mais perfeito mundo de todos os sentimentos – uma espécie de estado/lugar de execução, onde podem ser desenvolvidas experiências acerca das hipóteses de comunicar, sem possibilidades de responsabilizar uma só pessoa. Neste mundo de indiferença, pode comunicar-se através de uma cor.
Erik Satie e Thelonious Monk apareceram juntos, falavam de Picasso sem uma escola cubista, de Beethoven sem o classicismo e de Schönberg sem o dodecafonismo. Satie avançou ligeiramente e proferiu:
«Notai que toda a minha música sou eu que a faço... Todos os bemóis (sobretudo), todos os sustenidos (mesmo os duplos) são feitos totalmente (dos, pés à cabeça, pois então!) por mim. Tudo isto é muito curioso e denota uma grande força de carácter (franco e leal). Também me benzo... Sim. I ... I O músico é talvez o mais modesto dos animais, mas é o mais orgulhoso disso. Foi ele que inventou a arte sublime de maltratar a poesia. Se alguém descobrisse alguma coisa verdadeiramente nova, recomeçaria tudo.» (3)
Entretanto Monk aproximou-se, mostrando interesse em ir embora. Parecia que estava atrasado. Que mistério ocuparia agora as suas mentes? Eles, os artistas incompreendidos, em permanente auto-exílio, únicos no seu tempo?!
Com o tempo fomos aprendendo a agir segundo as regras mais elementares da vida clandestina. Na alteração das suas condições de existência, os homens mudam e transportam consigo o seu meio. Todos os refugiados e apátridas parecem estar sempre a voltar ao lugar das suas origens. Fazem um círculo sentimental donde irradiarão para sempre os seus ideais e, paralelamente, continuará a aumentar o número dos que partem para as grandes movimentações em massa da história. Continuam a existir os que ficaram sem nacionalidade, sem território, sem país… Desta estranha forma de segregação surgem novas populações desalojadas, colectividades flutuantes reflectidas numa espécie de duplo. Já ninguém se surpreende com estes factos e nada se assemelha à situação que, para admiração de muita gente, começou a invadir o mundo e particularmente a Europa dita civilizada, no começo do século XX. Ninguém diria ser possível que a partir da Primeira Guerra Mundial, e num breve período de tempo, tivessem deixado o seu país de origem um milhão e meio de russos brancos, setecentos mil arménios, quinhentos mil búlgaros, um milhão de gregos e centenas de milhares de alemães, húngaros e romenos, com a consequente introdução, na ordem jurídica, do estatuto de desnaturalização ou desnacionalização, aplicado em massa a todos os cidadãos.
Ao analisarem-se estas formas agressivas de deslocamento, percebe-se como as pessoas precisam de escapar aos seus lugares de origem, apesar de muitos dos que conhecemos não sentirem a mais pequena necessidade de fuga, nem de se aperceberem da brutalidade da sua condição de encerramento social. É necessário atingir momentos de uma evidente aniquilação para se tomarem decisões de partida, geralmente tardias em relação às possibilidades objectivas de êxito. Seria prioritário achar com brevidade um retrato-robô dos prováveis cúmplices de evasão e concluí-lo rapidamente. O Jazz estava aprisionado no interior de um povo que, depois de consideradas as várias hipóteses possíveis de auto-salvação e depois de algumas hesitações, se tornou consciente da amplitude das populações envolvidas. Isto não facilitaria as indagações sociológicas. O número de pessoas elegíveis para esta difícil operação de mestiçagem transcultural era infinito. Ficamo-nos pela enumeração sempre limitada de um pequeno conjunto de características. Teria de ser alguém que soubesse utilizar a voz e os sons de modo habilidoso, sabendo fazer deles um disfarce de múltiplas aparências e fisionomias – um cúmplice perfeito nesta vasta operação migratória.
Desde há muitos anos tínhamos descoberto, durante a história do homem, a existência de pessoas com muito boas mãos. Apareceram profundos conhecedores dos riscos de colocar nos instrumentos de cordas, de sopro e percussões a produção de uma estrutura de defesa, capaz de salvaguardar as suas raízes, utilizando cenários enganadores de circunstância, de uma maneira mimética. Eles simulavam muitas personagens cujo meio circundante obrigava a recriar e a imitar. As suas capacidades vocais e sonoras, formadas pelo conjunto de instrumentos inventados por estes homens, iam modelando de um modo ajustado, uma conjugação de artes e de artifícios. Os autores podiam assim confundir, dissimular e desagravar a estratégia de ter de lutar contra o apagamento das suas origens e de enfrentar a sua segregação, estabelecendo no êxito integrador da música uma saída/solução. Não nos podíamos queixar pelo facto de sermos prisioneiros das convenções colectivas de um exterior ferozmente aglutinador, ou das definições e das ordens socialmente normalizadas por todas as burocracias – uma forma de iludir os métodos de humilhação e de controlo sobre tudo o que pensávamos. Ser um povo no meio de um contexto socialmente poderoso, passava pela capacidade de se saber identificar consigo próprio e de se saber sobreviver culturalmente.
Não podíamos contrariar ou não estar convencidos de que alguma vez deixáramos de ser exclusivamente originais e “o centro do universo”, apesar de não conseguirmos redefinir continuamente a vida de cada uma das pessoas cujo limite de raça/cultura ainda nos fornecia identidade. Desconhecia-se também como articular um processo de separação/aglutinação sem extinguir o grandioso património guardado. Queria restaurar-se uma ideia de mundo musical representado no lado de fora de cada um, sobre o contexto social envolvente, desenvolvendo-se um instinto réptil de defesa das próprias referências. Todos desejam escapar às assimilações forçadas e claramente opressoras, reveladas à sua volta. Charlie Mingus continuava completamente absorvido a tocar piano. Como se pode imaginar esta situação teria baralhado qualquer um, não pelo facto de o vermos ali tão perto, mas por não deixar de mexer as suas enormes mãos sobre o teclado. Terá adivinhado o que tínhamos pensado quando contou:
«Un dia me encontraba feliz tocando el piano. De pronto di con una melodia alegre...instantes después encontré una disonancia que la hizo triste. Me di cuenta entonces que la pieza debía de constar de dos partes. La historia sería la de un payaso que intenta gustar a su público – tal y como hacemos los músicos de jazz – pero al que nadie quiere. (...) no me gusta que llamen jazz a mi música, no mi gusta esta palabra. Sabe qué quiere decir en Nueva Orleans To jass to lady?: pues simplemente joder, joder sin más. Yo cuando jodo, más que eso hago el amor.» (4)
O espaço onde os músicos viviam era uma espécie de território emparedado, cheio de obstáculos construídos por indivíduos incapacitados de comunicar. Abandonados pelas suas línguas originais, tiveram de reinventar outras formas de expressão como manual de sobrevivência. O não-lugar das suas frustrações dera origem a uma integração igualitária. Os artistas eram segregados no disfarce de uma assimilação paternal e compulsiva. A raça tornou-se o centro de separação, algo social e pesadamente denso. Não havia nada mais cruel do que sujeitar uma população a um estigma baseado na vulgaridade das suas aparências, no interior de uma sociedade com uma lotação máxima de máscaras por cidadão. O sistema fazia a apologia de uma apatia racial preguiçosa, perante a ideia de liberdade, destinada a um povo outrora escravo. A libertação destes profundos sinais racistas e sociais levam a esse momento libertador, tantas vezes anunciado e outras tantas adiado. Daqui aparece o desejo permanente de mudança, conotado com tudo o que sucede no Jazz – viver uma música revelada como recente evolução do seu calendário, fazendo do imprevisto um ponto libertário de escape.
“Há meio século que se fala de revolução da ciência e da técnica; outros grupos têm falado, com a mesma insistência, da revolução do proletariado internacional. Estas duas revoluções representam para os ideólogos e seus crentes as duas faces contraditórias, mas complementares, da mesma divindade: o Progresso. Deste ponto de vista, os regressos ao passado e as ressurreições históricas são impensáveis ou reprováveis. (...) Se houver uma palavra que defina estes anos, não é «revolução», mas «revolta». Todavia, trata-se de «revolta» não apenas no sentido de perturbação ou mudança violenta de uma condição para outra, mas igualmente no de um regresso às origens – revolta como ressurreição”. (5)
Precisamos ainda de saber como utilizar, sem perder o primevo sentido dos valores, descobertos através do tempo e no meio das nossas dramáticas experiências colectivas, expressas em inúmeras metáforas de sublimação nos actos empreendidos durante todos estes séculos. A arte é uma manifestação realizada através da forma positiva de ultrapassar e superar a miséria e a incapacidade. Muitos utilizaram erradamente as leis da providência, cujos princípios de justiça e de igualdade se resumem a medidas de orientação pragmática. Verificou-se mais tarde que, na sua prática, existia uma perda grave de referências, escondida nas formas utilitárias da acção. Ainda hoje estas formas de ser influenciam negativamente as sociedades contemporâneas.
Continuam a existir pessoas com vontade de acreditar no excesso das suas manifestações criativas, como uma forma de ultrapassar o limite das inúmeras delimitações sociais, políticas e económicas. Iludir um estado de perseguição através de formas musicais ou artísticas inventadas, é uma fuga conversora de superação, um escape apoiado no instinto de sobrevivência. Se de facto queremos agir, libertando-nos assim das energias circunscritas pelas dificuldades e pelas barreiras das sucessivas causas de uma sina feita destino, do qual os que se afastaram não sobreviveram, o melhor é não pensar. Os elementos informadores do Jazz são simples linhas de movimento, permanentemente redesenhadas como actos naturalmente repetidos e involuntários de uma sobrevivência inconsciente – um estado próprio de uma vida periférica, condensada na esperança imaginosa de ultrapassar os limites, porque através dela podem construir-se todos os horizontes impossíveis. O olhar, como elemento fundamental de redefinição do visível, atinge o seu limite mínimo de enclausuramento quando o lugar para qualquer viagem ou fuga significa salvação e esperança. Com o Jazz estamos a sentir uma obrigatoriedade de pertencer a um mundo, a um espaço refeito à nossa volta, não desperdiçando motivos na nossa procura pessoal. Começamos, então, a perceber várias tentativas empreendidas a partir de todas as músicas possíveis, com os seus autores a poderem apreender nas suas qualidades criativas, a possibilidade de se afastarem dessa espécie de escuridão paralisante. Na arte apagamos a emanação de uma tristeza destruidora sobre o espaço pagão. Liberta-se uma estranha energia na relação absoluta com a natureza e com os instintos, contrariando assim a vontade artificiosa das construções sociais, congeladas na preguiça colectivamente integradora e na burocracia inumana e poderosamente racista.
O caminhar não pode adormecer a força da imaginação. O percurso do pensamento é um estado de alerta, capaz de endereçar as obras de arte na direcção dos sonhos e vice-versa. Pensar numa cor pode ser uma solução abstracta, capaz de alterar a opacidade e a escuridão, descobrindo um rumo. Todos os reflexos sonoros abertos, associados a um estado criador permanente, agem de forma indirecta sobre todas as formas de música e podem ajudar a sair da enorme cegueira circundante. O espaço sensorial abrangente, iluminado por um estado musical impossível de compreender em separado, representando uma unidade universal, é detectado no Jazz. A beleza assume, por vezes, estranhas metamorfoses interpretativas, alterando coisas obscuras das quais retiramos leituras, audições e olhares. A palavra “luzazul” é entendida de várias maneiras, no modo como fomos obrigados a admitir uma cor ou como poderia ser apenas encontrado um salvo-conduto, um idioma-passe capaz de abrir a porta para um território de descoberta no contrário de um segredo. O que está escondido espera ser visível. Ler de trás para a frente poderá corresponder a uma descoberta de uma passagem para a nossa saída interior. A luz aparece sobre aquilo que nos estava a enredar na mais completa escuridão.
Curiosamente, iniciamos a partir da cor do Jazz uma pesquisa sobre qual seria a melhor forma de direccionar o nosso olhar. A observação recai sobre um acto de audição no momento de fazer música, actividade através da qual se faz luz. Quando compreendemos o contrário na nossa vida, a zona iluminada arrasta-se, invisível pela força da cor que nos cega. Um caminho pode ser um trilho sonoro orientado em nós, sem exprimir muitas considerações ou opiniões acerca dos nossos conhecimentos. Uma sensação de temor interrompe as vias interiores de descoberta e impede a transgressão das regras e das vontades sociais. Os dependentes deste processo aglutinador de tensões exteriores, são apenas peças de uma máquina incompleta e colectiva que não produz nada de substancial, deixando apenas sair de si um refugo sentimental pouco tolerante.
Não é por acaso que se lembra o livro “A nossa necessidade de consolo é impossível de satisfazer” de Stig Dagerman e se pensa como Bird ainda continua tão fora da realidade, levando-nos a duvidar da sua efectiva presença. Companheiro a tempo inteiro da periferia como símbolo de marginalidade, cidadão da alquimia, das drogas e do sub-mundo dos alucinados, a sua aventura parece demasiado estranha. Provavelmente naquele momento teria dito o mesmo que Lady Day (Billie) conta a propósito:
«...nos tempos do Log Cabin as raparigas tentavam fazer troça de mim e chamavam-me Lady porque achavam que eu era pedante por não querer ir à mesa dos clientes levantar o dinheiro. Mas o nome de Lady ficou mesmo depois de todos terem esquecido de como tinha surgido. O Lester pegou nele e juntou-lhe o Day de Holiday e chamavam-me Lady Day (…)» (6)
«Os músicos negros americanos têm que lhes tirar o chapéu. O Charlie Parker e as pessoas como ele e como eu nascemos com aquilo. E temos de nos exteriorizar de qualquer maneira. Aqueles tipos não tinham aquilo dentro deles. Tiveram que trabalhar e estudar mais para conseguir chegar àquele ponto.” (7)
Como localizar pessoas capazes de colocarem uma cor libertadora na música? Como desenvolver resistências na maneira de ser dos que não se deixaram anular pelas pressões à sua volta ou pelos discursos ameaçadores dos poderosos? Quem não quer afastar-se dos preconceitos já socialmente contratados, da segurança colectiva aniquiladora, do centro sagrado da história e da sabedoria guardada pelas academias e pelas velhas instituições do saber, nunca poderá enfrentar o terreno de uma marginalidade surgida como local de solidão, espaço de exclusão e isolamento, no qual não existe um território de confiança, com lugares artificialmente iluminados e espaços sordidamente vigiados. O Jazz não se encontra protegido pela pseudo-paternidade da lei dita igual para todos. Esta promove uma adesão fácil à enorme proliferação de actos protectores, com medos e transgressões cercados por muros e fronteiras a pairarem num limbo existencial onde não existe segurança. Os condomínios aparecem na sociedade urbana contemporânea como exemplo revivalista do campo de concentração totalitário, agora mais aberto e pós-moderno. A moda da segurança, como todas as modas em final de um tempo socialmente insolúvel, assemelha-se aos hábitos sem dono nas épocas de decadência, transformando as organizações de luxo, sob o brilho aparatoso dos edifícios construídos, numa reclusão residencial e doméstica. Preso numa amável distância entre todas as ambivalências, longe da contaminação e das más companhias, o Jazz foi uma superfície flutuante que nos avisou e avisa sobre o saber sentir por perto o cheiro de todas as mortes impuras e mal enterradas. Procurou lutar, na ingrata missão de descobrir uma cor musical libertadora das obrigações e dos deveres, contra um centralismo paternalista e tutelar, conformado e uniforme aos muitos comportamentos correctos.
Explicar o que se passou e tentar narrar as várias histórias nos inúmeros acontecimentos relatados, equivale a encontrar uma história possível por entre muitas outras sem importância que podiam ter-se passado em qualquer lugar das nossas vidas. Muitos outros casos, no nosso pequeno mundo global, tornaram comum e vulgar esta vontade estranha de narrar, de adquirir uma ideia generalizada de incapacidade de fuga, sobre qualquer coisa acontecida em toda a parte.
No princípio perderam-se dos seus lugares de origem. Não é que os possamos considerar definitivamente estranhos, mas a tribo donde vieram, essa espécie de arquipélago social, foi sendo transformado com o tempo em jangada flutuante. Arrastado por fortes correntes e ventos de feição, afastou-se irremediavelmente dos seus pontos de partida com temíveis consequências psicológicas e culturais. Aparece aqui, pela primeira vez, a miraculosa e salvadora empatia que torna os membros da mesma horda, invariavelmente transparentes uns para os outros. Mais adiante este fenómeno vai alargando-se e crescem partes mais ou menos iguais ao tamanho daquela pequena ilha, agora muito mais intensas e humanamente luxuriantes, repletas de pequenos e tímidos sons, barulhos e ruídos que se vão tornando, com o passar dos dias, cada vez mais familiares. Como uma “soundscape”, referida pelo compositor canadiano Murray Schafer, a característica de um grupo – uma paisagem sonora, ou sonosfera – atrai os seus membros para o interior de uma esfera psico-acústica. Os indivíduos começam a existir num contínuo de espírito e de som, uma espécie de colo-fantasma, em parte imaginário, em parte real, manifestado como entidade protectora. Um dia, surge a primeira construção de sons tão suavemente organizada entre os acusticamente perfeitos e imperfeitos, agora transformados num espantoso mecanismo de comunicação nunca até então conhecido. Rapidamente se torna cada vez mais universal, porque já não depende de coisas tão triviais como o lugar e data de nascimento. Pelas suas próprias características, não é possível em sentido inverso atribuir-lhe uma origem. Sabe-se apenas que tinha sido dado ao mundo o Jazz, mas poderia ser também uma outra música qualquer. Uma música, como tantas outras, guarda dentro de si imensos segredos impossíveis de serem escutados. Ainda hoje persiste a sua parte mais audível, levando consigo discípulos e seguidores. Revela-se para todos os conhecedores numa força poderosa de atracção, tornando-se soberana, inesgotável e inevitavelmente eterna. Mistura-se intempestiva e descaradamente promíscua com todas as músicas de ocasião. O seu ímpeto é o nosso ímpeto e na contracorrente da vida é bom deixarmo-nos arrastar por ele.
Coltrane passou apressadamente e confessou: Vou na minha segunda aventura e sinto-me seguro. Repara que na exacta direcção do teu tema favorito, entre Armstrong, New Orleans e Miles, continua a existir muita gente demasiado atarefada para reparar nos seus génios.
Ele tinha acabado de sair da obscuridade formada pelo centro-plataforma contida nestas palavras e, quando terminou esta história sem qualquer importância, estava uma luz suficiente para entender as cores que rodeavam a sua música.
Pela obrigação de viajar sem deixar rastos, tivemos de refazer a descrição dos acontecimentos. Estava construída uma espécie de Torre de Babel musical – o Jazz.
AUTOR: IVO MARTINS
EDIÇÃO: Jornal Guimarães Jazz #3 - Câmara Municipal de Guimarães/ Associação Cultural Convívio/ A Oficina DATA: Novembro de 2008
INTRODUÇÃO
No começo de cada ano, ao iniciar-se a concepção de um novo programa para o festival, ressurgem as mesmas dúvidas. O que é actualmente o jazz? Haverá um método específico capaz de fixar esta música, a partir um processo identificador suficientemente seguro e universal? Todas as perguntas perseguem uma resposta definitiva e não se cansam de persistir no tempo, cada vez mais insatisfeitas e exaustas. Por entre toda a complicação causada por este tipo de questões sem qualquer resultado significativo, cada opção ou escolha de músicos ou músicas deve começar por se distanciar dos interesses em jogo; deve evitar a tentação de atrair atenções sobre acontecimentos pouco representativos dos problemas reais da definição do jazz.
Os factos contestam a capacidade de se darem respostas quando as inúmeras perguntas-fantasma aparecem como novos espectros das velhas dúvidas em mudança no tempo. Neste sentido, criam-se assuntos de controvérsia, temas não resolvidos sobre as questões actuais do lugar da improvisação, impedindo a visibilidade da música apresentada no contexto do festival. Quando se anunciam acontecimentos musicais, estes irrompem também de forma mediática, não reproduzindo somente movimentos de selecção e de escolha. As opções daí resultantes transformam-se em momentos utilitários que ampliam imagens de propaganda e marketing, alimentando polémicas apoiadas no gosto alargado das audiências situadas na periferia da programação do festival.
Um programa deve representar um espaço de análise indutor de fruição, abstendo-se de realizar debates exteriores à sua programação. Se assim não for, o festival torna-se um assunto de discussão desviado de todas as intenções iniciais da escolha.
Não é possível transformar uma programação num problema sobre os limites do jazz. Em todos os momentos de selecção, faz-se uma espécie de adesão a uma música reflectida sobre todos os outros géneros. Quando esta decisão é transposta em acto retórico, o discurso construído na bolha narrativa da defesa do projecto e da sua afirmação cultural, inclui elementos caracterizadores dessa escolha, tomando distância dos assuntos mais gerais. Viver numa esfera de compromissos e de cumplicidades, dependente de interesses, afasta o festival das suas grandes finalidades e relaciona-o com formas de actuar duais. Realizando um processo que debilita a programação e tecendo um desvio na defesa de outros interesses, baseados na visão de um mundo bipolar, o festival aparece como meio residual de expressão. Estabelece-se um mecanismo de exclusão, desautorizando as melhores condições comunicacionais para se revelar o programa como momento aberto de assimilação e confronto para todos os apreciadores do jazz; chega-se a uma situação na qual nada de substancial se torna possível detectar dentro do ruído da discussão.
Nas polémicas existem sempre muitas diferenças de opinião sobre os valores estéticos e deixa-se o gosto ficar esbatido e opaco na utilização incisiva de formas de persuadir. Desaparecem os elementos mais característicos de uma clara opção estratégica e perde-se, deste fraco modo, uma possibilidade de leitura geradora de ideias. O programa tem de dar voz à pessoa e não aos interesses da acção individual ou colectiva, definidos por processos de afirmação pessoal ou de grupo, sobre a escolha manifestada.
O gosto e os géneros surgem-nos como argumentos históricos, numa forma enfraquecida de análise cronológica, ampliada em momentos inúteis de discussão. As escolhas perdem protagonismo e as pessoas capazes de pensar são arrastadas para a periferia de um centro legitimamente formado pelo Guimarães Jazz. Deixámos a participação para nos implicarmos num confronto, abandonando as possibilidades de fruição e de gosto. Não temos espaço para sentir, nem prazer para ouvir aquilo que o programa nos propõe. Estamos sempre a tropeçar nas velhas questões dos conflitos geracionais, na tentativa de resumir a história em problemas já solucionados há muito tempo. As questões sobre o novo e o velho, sobre o tradicional e o moderno, são terrenos fugidios à discussão. Actuar de uma forma persuasiva em discursos sobre o problema da definição do jazz e das artes em geral, adquire uma evidente conotação activista e militante, manifestada na incapacidade de perceber a música e a cultura contemporâneas. As palavras abafam o jazz e redimensionam-se em problemas viciosos sobre o passado em que tudo era história e em os acontecimentos estavam circunscritos a questões de ordem prática, relacionadas com a acção. A música e a arte estão localizadas no domínio do pensamento e os valores estéticos dizem respeito a formulações realizadas na busca de uma explicação, sobre o presente referenciado nas nossas formas de agir.
O Guimarães Jazz procura soluções de sobrevivência através dos seus programas. Toda a busca de sentido se dissolve no ar e por isso se reexaminam incessantemente todas as formas de ouvir e compreender o jazz actual. As regras e as doutrinas aceites esfumam-se no minuto imediatamente a seguir à sua audição e a música vira-se muitas vezes contra si própria, invertendo valores antigos e declarando novos os resultados de uma operação de mestiçagem e de incorporação cultural, nunca antes admitida. As colagens e as repescagens de elementos transformam os processos naturais de estruturação musical e dificultam as medidas de normalização, renegando códigos e refazendo regulamentos. Rejeitam-se e recuperam-se permanentemente conjuntos mínimos de regras aplicáveis. A história tem provado que estamos demasiado apegados a velhos códigos mas, simultaneamente, as pessoas estão mais dispostas a assimilar o novo. Os dogmas e as posições-limite couraçadas nos preconceitos de estilo e de uma exterioridade institucionalizada e aceite por maiorias, habituam perigosamente os indivíduos a prescindirem da necessidade de tomar deliberações decisivas. Por isso, não se pode nunca facilitar nem ceder aos processos simplificados de concepção. O Guimarães Jazz é uma centralidade afirmada, mas não exclusiva, procurando saber localizar-se na proximidade das margens e das periferias. O debate das questões gerais sobre o jazz, em simultâneo com o festival, impede a assimilação de todos os seus actos preparatórios. Pretende-se que a programação não encalhe no regime carcerário – na visão bilateral de uma discussão velha e cada vez menos relevante, entre jazz antigo ou inovador – não dispensando, com isto, o imenso terreno libertado como espaço livre de compromissos. Não há interesse em aderir à superfície dos grupos formados dentro da esfera centralizadora do jazz, composta por vários tipos de actores que se movimentam à sombra desta música. É preferível tomar distâncias relativamente aos colectivos, conjuntos activistas de defensores por um certo tipo de jazz. A discussão gerada pelas questões de classificação do jazz não deve ser introduzida no contexto do festival porque anula os seus espaços de assimilação e não permite agir de forma criativa sobre o imaginário. Precisamos de sentir o outro lado do problema para iniciarmos a recriação permanente de todas as potencialidades silenciosas e, através da sua comparação com outras alternativas, elaborar novos modos de planear, de inventar espaços, de incentivar negações úteis, a partir dos quais se realizem renovadas construções. Este sentir não é um simulacro do que não queremos ou do que não assumimos, mas uma razão de existir suficientemente interessante para ser explorada e potenciada.
A arte está a ser desregulada incessantemente e este estado incerto e aleatório é útil a determinados elementos situados no terreno do jazz. Sentimos que nada pode ser percebido como duradouro. As pessoas vivem momentos sucessivos de experiência como se fossem uma colecção de episódios sem consequência directa nas suas escolhas, facilmente esquecidos. A harmonia não é uma uniformidade e necessita sempre de trabalho – um esforço de interacção sobre diferentes motivos. A variedade da ideia e do gosto, neste contexto, assume-se como possibilidade de se estabelecerem construções pragmáticas, articuladas num leque alargado de formas de ver e de pensar. Assim, a não fixação das escolhas, dos tipos, dos géneros, dos estilos e das definições no programa do Guimarães Jazz, aparece como uma finalidade necessária, uma visão não restritiva, aconselhada por necessidades de abertura e de exploração das diferenças, entre muitos outros projectos possíveis.
Sabe-se como todas as escolhas foram sendo privatizadas e transformadas em atributo de liberdade e como, a partir delas, se fizeram muitas construções de individualidade sem, contudo, existir uma identidade mínima unificadora. Não há nada a dizer sobre as formas inovadoras, nem sobre o que parecem ser as diferentes maneiras de ouvir. A promoção de uma ideia única e centralizadora de um certo tipo de jazz, apoiada em audições mais ou menos originais e em inovações na forma de a abordar, não tem a mais pequena consistência argumentativa e é uma abstracção útil que pretende atingir outras finalidades. Quando se tenta propagandear a existência de um processo de qualificação capaz de avaliar as programações e as escolhas, percebe-se como este modelo de actuação está desfasado do contexto fragmentário e disperso do mundo cultural contemporâneo. O que persiste num conceito de avaliação, determinado por uma classificação de mais para menos, é a necessidade de persuadir, de conceber um poder tendente a recair sobre todas as outras escolhas concebíveis, como acto exterior e manifesto de um excesso de zelo cultural.
Alguém gritou de uma das suas inúmeras janelas:
- A história do Jazz não remonta às suas origens e acaba sempre por tratar apenas das manifestações mais interesseiras, as que servem a finalidade da própria narrativa. Os acontecimentos existem e têm também atrás de si um considerável passado do qual nada se sabe, nem ninguém quer saber.
Ficou-se com uma estranha sensação de desconfiança sobre o que havia sido dito e se pudéssemos voltar atrás... Os que, durante tanto tempo, foram capazes de preparar uma grandiosa saída da enorme escuridão inicial, pondo em causa a sobrevivência da sua imaginação, acabaram por ser ultrajados. Os indivíduos cuja descoberta, o Jazz tinha acabado de criar, tornaram-se os seus maiores inimigos. Hoje os artistas vivem mais instalados na ressaca do seu trabalho do que os outros músicos que fizeram o trabalho por eles em momentos sublimes de criação, arriscando e morrendo pelas suas ideias. Ainda não se conheciam o suficiente para se perceber como estas afirmações iam ser repetidamente proferidas no decorrer dos tempos. O certo é que a partir de então, iam iniciar-se confrontos de todos os géneros, com causas e razões perfeitamente caóticas, ridículas e estúpidas, desencadeando-se pretensas polémicas e muitas necessidades de alimentar a afirmação egoísta e egocêntrica de uns tantos indivíduos desejosos de adquirir posição. Inicia-se um novo ciclo. Aquilo que há pouco tempo parecia uma enorme totalidade pacificada e salvadora, rapidamente adquire múltiplas expressões, variedades, géneros e subgéneros. O mais curioso é o facto de todas estas coisas, em vez de serem a causa de união entre quem empreendeu a fuga e de todos os outros que se lhes foram juntando, começou a ser uma estranha fonte de conflitos, divisões e até de um estranho radicalismo. A imagem destes confrontos passou a ser tão intensa que já nem sequer nos lembramos da forma como conseguimos fugir daquele centro perigosamente abstracto, pequeno e ameaçador. A fragilidade do tempo era incapaz de conter tanta gente sem causar graves prejuízos.
Estávamos naquele pequeno grupo de gente insatisfeita com o tédio, com o aborrecimento, com a monotonia e com a mediania da arte e das suas relações de interesses e resolvemos empreender uma rota imaginária sem vontade de retorno. O tédio afasta o sofisticado e incrementa o excesso das experiências. Já vimos tudo, já fizemos tudo e isto converte o aborrecimento na moda de uma pose vanguardista. Imaginámos, durante bastante tempo, a periferia como uma espécie de terra prometida, um lugar onde estaríamos a salvo do terrível mecanismo nivelador dos conceitos, tendo na média de todas as práticas e de todas as coisas, uma espécie de deusa pagã que ia exigindo, para se manter viva, as mais dolorosas amputações sacrificiais.
Neste momento parecia ouvir-se distintamente Ornette Coleman a acompanhar Burroughs nas anotações e apontamentos da sua fase pesadamente delirante de ”The Naked Lunch”. Que semelhança fantástica entre as palavras e o saxofone alto! «Flash...
Rápido e branco... gritos de insectos...
Acordei com um gosto a metal na boca.
Acordei dos mortos com o cheiro incolor da morte.
Parido por um macaco cinzento.
Dores agudas da amputação...
– Os rapazes dos táxis estão à espera de…
– disse Eduardo e morreu com excesso de dose em Madrid.
A carne tumescente estremece em convulsões rosa... orgasmos... movimento para acender um cigarro...
Estava de pé com um chapéu de palha estilo 1920 que alguém lhe oferecera... palavras sussurradas de mendigo caíam como aves mortas na rua escura...
Mais não... mais não... No mas...
Um mar de martelos hidráulicos recortados no alvorecer de um púrpura acastanhado com o cheiro dos esgotos... rostos de operários jovens vibrando distorcidos e envoltos pela luz das lanternas de carboneto... tubos quebrados...
– Estão a reconstruir a cidade. Lee fez um aceno de cabeça com uma expressão ausente... Sim... sempre...
Se soubesse o verdadeiro caminho, indicar-lho-ia com muito gosto...
Não é bom... No bueno...
Volte sexta-feira.»
Tânger, 1959» (8)
O Jazz é produzido por visões que transcendem a linguagem. Quem duvidar da imaginação como factor passível de moldar a realidade, deve olhar para o acontecimento como se fosse a actualização do seu destino. A alma contém em si o que lhe vai acontecer. As visões pertencentes à experiência do onírico – algo exterior e impossível de descrever pela linguagem – remetem-nos para o ostracismo e para o exílio, meio caminho para a elaboração de uma identidade. Na arte os criadores alcançam uma estranha forma de perfeição depois da sua morte. O jazz irrompe de um inconsciente com uma grande intensidade, sendo a consciência incapaz de lhe dar a melhor forma artística. Por isso, a música está em nós num limbo impessoal da nossa existência e não numa superfície sonora racionalmente assumida. A força do Jazz advém da turbulenta reconstrução de sons que se elevam e ondulam, oriundos das profundezas alheias a toda e qualquer definição verbal. À medida que a música progride, testemunhámos acumulações de energia, gigantescas ondas de paixão, acréscimos permanentes de intensidade e de andamento. Os músicos criam um vocabulário e uma sintaxe conforme falam; constroem uma super língua musical, considerada por alguns bizarra e exótica, e é graças à sua flexibilidade e capacidade de adaptação que esta se resolve e contorce, escapando-nos constantemente. Ainda hoje o Jazz é intraduzível na mistura de uma forma suave e abrupta sobre todo o tipo de elementos linguísticos musicais. As formas oriundas das mais diversas raízes africanas e muitas outras de proveniência europeia, juntamente com um sem número de importações orientais e urbanas, baralham de maneira repentina todas as nossas anteriores aquisições compreensivas. Contudo, há nisto uma simetria simultaneamente activa, exposta sob um modelo clássico como se fosse uma medida matemática. No Jazz a vida é tensão, não havendo nenhum repouso possível entre os vários elementos actuantes, como se existisse um poder xamânico tornado real sobre as ideias, numa dolorosa materialização da vida em supremo ritual.
No momento presente, não é possível acreditar em visões utópicas como as associadas a estados de indução visionária, localizadas nos vários sentimentos idílicos, em inúmeras mitologias românticas. Não se pode admitir a existência de um músico genial totalmente desconhecido, ou de um talento incorruptível abandonado e ignorado. Estes quadros existenciais não são susceptíveis de existir num mundo cuja acumulada capacidade de comunicação, torna tudo inexistente. Os acontecimentos podem ser instantaneamente transmitidos para todas as partes e as pessoas possuem ferramentas poderosas de comunicação para se fazerem ouvir, vivendo um contexto poderosamente aberto como nunca aconteceu no passado. É difícil perceber o impacto deste fenómeno da globalização e o modo como ele se desenvolve nas múltiplas actividades culturais. Vivemos uma era de consumo, num mundo onde a abundância crescente e a emergência de uma sociedade se dimensiona mais em função do consumidor do que daquele que produz. A integração social passa a fazer-se através do impacto sedutor do mercado, decrescendo assustadoramente o empenho cívico das pessoas. Desenvolveu-se uma economia de guerra, como medida salvadora do desemprego e da crise, seguindo-se uma continuada utilização das inovações em larga escala, a cujo conjunto se chama tecnologia.
Havia no passado, um distanciamento harmonioso entre os detentores do saber e os outros que os afastavam do “povo” (considerados por alguns a “argila inerte” para o ardor da criação). A missão de transformar a realidade em criação, pressupunha a existência de uma periferia, de um mundo paralelo realizado no trabalho feito solitariamente, muitas vezes através da experiência dolorosa da solidão e do isolamento.
Seria importante retomar esse espírito libertário e mais liberto de compromissos. No passado as pessoas da cultura estavam mais desligadas dos compromissos formais e por isso desmascaravam mentiras, desvalorizavam ideologias e relativizavam os pensamentos. Deveríamos recuperar essa distância perdida de forma dramática na cultura contemporânea. Seria interessante dar prioridade àqueles que pensam, aos que sabem agir sem amarras nem compromissos e que assim adquirem uma intuição e uma penetração singulares, na forma como conseguem interpretar o mundo. Falta-nos o acréscimo da sua lucidez, a fiabilidade da sua autoridade ética e cultural, desenvolvida na elaboração dos juízos manifestados no passado. O grau de envolvimento dos agentes culturais no mercado, acompanhado de todo o tipo de interesses, retira-lhes independência e inviabiliza o aperfeiçoamento dos actos preparatórios – elementos capazes de levar a uma melhor formulação das decisões.
Ao não pertencermos a uma classe ou grupo de interesses nos mútuos conflitos a que estes se sujeitam, ao sermos rejeitados por cada um desses núcleos móveis de influências e ao recusarmos o compromisso com cada um deles, estamos a criar uma garantia de existência – algo conducente à possibilidade de se atingir um juízo mais verdadeiro sobre a realidade.
Neste sentido, o mito do músico genial desconhecido a tocar numa praça ou numa estação de metro, representa a metáfora de alguém que soube tomar distâncias, recusar protecção, optando por ser um errante perpétuo que, ao aceitar a experiência do fracasso como estratégia de vida, pode tornar a sua e todas as outras vidas intelectuais mais verdadeiras.
Continuam a existir muitos perigos capazes de levar à vulgarização artística e à falta de qualidade dos acontecimentos culturais. A crescente importância do mercado na cultura foi vista por algumas pessoas como uma descarada expropriação e muitos criticaram esse momento, aparentemente irradiador de mais e de melhor cultura. Protesta-se contra todas as forças invasoras do mercado, incentivadoras do lucro ou da especulação na arte e pensa-se que, com essa nova situação, se instalaria uma irremediável uniformidade cultural – um modelo imposto, assente num estado insanável de homogeneização, nos circuitos e nos produtos culturais. Dizia-se que se estava a promover uma nova espécie de homem, um sucedâneo social sem qualidades, convencionado na ideia de indivíduo vulgar, banal e mediano. A cultura passaria a estar baseada numa prática cultural insípida e incaracterística. Neste contexto nada optimista, considerava-se a possibilidade de prevalecer uma aborrecida uniformidade cultural, apoiada na indiferença monótona do público, incapaz de reflectir sobre matérias de gosto e absolutamente inoperante nas suas capacidades de escolha.
Curiosamente, na era da globalização o mercado da cultura parece ter a mesma reacção que os outros mercados, beneficiando da diversidade e da aceleração dos ritmos das modas. Os perigos da banalização atrás referidos, não se verificaram da maneira como haviam sido previstos, isto é, na perda acentuada de critérios de valoração, expostos na fórmula generalista de uma cidadania medianamente calculada. O mundo, entretanto criado pelos novos agentes culturais, desprovidos de sentimento ético e remetidos exclusivamente ao negócio e à especulação, num mercado sujeito às habituais regras de funcionamento, trouxe consigo um turbilhão de produtos, muitas vezes em oposição entre si. Foram criadas situações confusas e distorcidas, obrigando-nos a repensar todas as previsões e a encontrar novas estratégias de sobrevivência e de resistência.
Com todas estas histórias passíveis de serem olhadas como crónica de um povo que avança pelo seu tempo, impossibilitado de regressar ao ponto de partida, vão-se encontrando lugares muito diferentes daqueles donde tínhamos saído no início da nossa aventura/viagem/fuga. Quando não é possível existir um retorno total, um recomeço sobre a nossa condição de seres incapazes de ir mais além dos limites impostos pelos impulsos mais elementares, arranjamos as mais inacreditáveis desculpas, apelando a incompatibilidades e fazendo imitações grotescas e parciais das inúmeras justificações apresentadas como uma procura de todo o tempo perdido. Pode perguntar-se se valeu a pena, de facto, tanto esforço, porque quando se achou uma música tão extraordinária como o Jazz, logo de seguida as pessoas desataram a falar diferentes linguagens. Esta pluralidade de compreensões não equivale a um relativismo. Se um monumento, uma obra de arte ou um pensamento for equívoco ou inesgotável e deles resultarem muitas interpretações, esta multiplicidade de leituras simboliza mais a riqueza das criações humanas, do que a incerteza do nosso saber. O que nos havia dado um grande prazer ao tomarmos contacto com as mais ricas colorações musicais, nas suas múltiplas viagens através das gentes e dos lugares donde partíramos, não foi suficiente para impedir muitas divisões insolúveis.
Hoje verifica-se uma acumulação de factos e relações, corrigindo erros e integrando o conhecimento adquirido sob um todo mais vasto. Existe uma renovação que coloca o Jazz como matéria inesgotável, um devir sem cessar de obras inéditas, suscitando profundas interrogações sobre a música. Sartre dizia que começava de novo, a cada instante, como se se recusasse a ser prisioneiro do seu próprio passado, como se recusasse a responsabilidade pelos seus actos e escritos, uma vez concretizados. O «brilho» ou a «claridade», uma qualidade fundamental da beleza, parece dar razão a Mircea Eliade, quando diz acerca de Vishnu: «os seres misticamente perfeitos são radiosos». A individualidade múltipla e global como forma de expressão do próprio homem, passou de imediato a agir e a provocar os mais diversos tipos de comportamento egoísta, fazendo-nos movimentar em círculo, como se estivéssemos perdidos e fôssemos perfeitos desconhecidos. Tudo volta sempre ao princípio de todos os princípios, sendo a arte aquilo que melhor nos transcende, porque consegue sobreviver num meio de total impotência. De todas as verdades a arte é aquela que melhor nos direcciona para um lugar sem chegada nem partida.
(1) Marcel Duchamp, Engenheiro do tempo perdido, Assírio & Alvim, 1990, p.156;
(2) Jack Kerouac, Viajante Solitário, Minerva, 1975, p.156;
(3) Erik Satie, Escritos em forma de grafonola, & etc, 1993, p.103;
(4) Cuadernos de Jazz, Charles Mingus, nº 39, 1997, pp. 37-38;
(5) Octavio Paz, Uma Terra, quatro ou cinco mundos, Presença, 1989, p. 80;
(6) William Dufty, Lady sings the Blues, Biografia de Billie Holiday, Regra do Jogo, 1982, p.63;
(7) William Dufty, Lady sings the Blues, Biografia de Billie Holiday, Regra do Jogo, 1982, p.241;
(8) William Burroughs, Refeição Nua, Livros do Brasil, 1959, p.241.