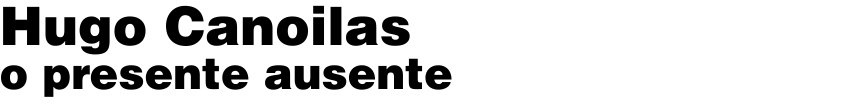AUTOR: IVO MARTINS IMAGENS: HUGO CANOILAS - ENDLESS KILLING [DETALHES] (2009) POR JORGE NEVES
EDIÇÃO: (Catálogo) Centro Cultural Vila Flor DATA: Dezembro de 2011
Há uns anos atrás comprei o livro Austerlitz, de W.G. Sebald. Procedi da maneira habitual: dirigi-me a uma
livraria, escolhi o livro, paguei-o ao balcão e voltei para casa. Li-o durante alguns dias e, chegado ao fim, fui
confrontado com a inscrição manuscrita, na última página, de uma assinatura praticamente ilegível, uma forma
alongada e feita num só gesto, de tal forma que não me foi possível concluir da sua origem nem autoria. Este
símbolo estranho aparece-me sempre que volto a pegar no livro, folheando-o ao acaso numa procura ausente de
atenção sobre uns tantos pormenores da história que me escaparam na primeira leitura. Aquela obra tem, assim,
para mim uma dupla marca: a estrutura do discurso literário propriamente dito e aquele desenho, marca, signo
que nos obriga a sentir a impossibilidade de ocultarmos os nossos conteúdos de consciência no foro íntimo de
cada um, sem os deixarmos transbordar para os objectos que nos são exteriores. As primeiras dúvidas surgem-
nos quando tentamos descodificar um nome que, à primeira vista, nos parece facilmente legível, mas que, depois,
tal como aquela assinatura, e após algumas tentativas, se subdivide noutras tantas formas possíveis de
denominação, provando-se que na nossa consciência há muito mais informação do que aquela que pensamos
existir. Essa capacidade de desdobrar um conhecimento, mesmo a partir de uma dúvida, diz-nos que certas
estruturas do saber não seriam susceptíveis de se multiplicarem num amplo processo de expansão se a nossa
consciência fosse um mero espelho objectivo do que observamos. Um pequeno estímulo como o de uma
assinatura encontrada ao acaso num final de um livro, um momento captado como uma singularidade que
contraria o decorrer normal dos factos rotineiros do dia-a-dia, adquire uma carga subjectiva que vai crescendo,
transformando-se gradualmente num signo atípico, um código desconhecido e, portanto, fechado à
interpretação comum. Quando temos à nossa frente algo que não podemos entender concluímos que a nossa
percepção é mais vasta do que aquilo que pensamos estar nela contido, que ela consegue preencher o hiato com
que é confrontada, deduzindo soluções de continuidade, estabelecendo ligações entre momentos separados,
impostos do exterior de uma forma não autoritária. Neste sentido, formulamos um jogo de hipóteses e realizamos
uma operação racional com estados de consciência que possuem um certo conteúdo, sem saber, no entanto, se
esses conteúdos são ou não verdadeiros. A partir deste momento, percebese como as assinaturas de um
documento, de um desenho ou de uma obra, não vão além de uma marca manuscrita, uma tentativa de
personalizar um objecto criado para ter vida própria fora do contexto onde foi imaginado e concretizado,
informando-nos da intenção de se dar por concluído cada momento nele contido. Percebe-se também que
alguém desejou e sentiu ter de acrescentar alguma coisa sobre esse ponto final e que, ao colocar a sua assinatura,
deu por suspenso aquilo que estava a fazer.
Nos trabalhos de Hugo Canoilas sentimos uma indiferença perante a autoria e a utilidade de se proceder a uma
assinatura final sobre o seu trabalho, que nos surge interligado numa continuidade circular e em expansão,
detectando-se mais facilmente o gesto inaugural da sua origem do que o último momento da sua definitiva
conclusão. Parece existir na sua obra uma recusa latente do derradeiro gesto convencionado pela prática
artística, que sinaliza a conclusão de uma obra de arte e a assunção de "uma autoridade ao contrário",
preocupada em impor a não imposição desse final a todos os que se encontram no seu exterior e esperam sentir
esse sinal. Esta espécie de suspensão sugere-nos a necessidade premente do artista em fazer tábua rasa do seu
passado, mesmo do seu passado recente, e retomar em cada início de uma nova obra o limite terminal da obra
anterior.
Há, assim, um momento presente de que ele não abdica e que se eterniza, renovando-se insistentemente através
do crivo do exame crítico a que ele próprio se sujeita, no derradeiro esforço de uma busca de verdade situada na
certeza absoluta da presença de si perante si mesmo. Cada trabalho valerá tanto pelo seu início como pelo seu
fim: ele é um espaço entre espaços. O seu tempo de execução transporta uma atenção rigorosa e consciente sobre
todas as suas opiniões, crenças, preconceitos e tendências, afastando-se delas para se esvaziar logo a seguir,
preparando a partir desse nada um momento fundador que se impõe como um despojamento do sujeito na sua
relação consigo mesmo. Ele reivindica a urgência de uma luta contra a tendência para estabelecermos um nexo
de casualidade sobre as coisas que vemos, atribuindo-lhes uma ordem. Evitar a influência que essa relação de
causa e efeito produz em nós pressupõe estabelecer uma distância sobre um sentimento de destino que parece
determinar a sequência dos trabalhos apresentados, permitindo que as ligações críticas reveladas se enquadrem
numa subida para um patamar humanista sentido na reivindicação de autenticidade. A voz do artista é uma voz
que ordena a proibição da ordem e que não tem nada para dizer. Esta reclamação de autenticidade encontra
numerosos equivalentes no campo cultural, circunscrita no fim das distinções entre cultura erudita e cultura
popular, subentendida na recusa de uma autoridade exterior, permitindo a abertura de um espaço de libertação
pessoal expresso na presença perante si mesmo e na procura de uma harmonia totalizadora capaz de integrar
todos os elementos espirituais, éticos estéticos…
A obra transforma-se assim num mecanismo indutor de um sentido de inacabamento e de que a falta de um
remate é a melhor resposta a ser dada para as questões que insistem na necessidade de um acordo entre quem faz
e quem recebe a arte. Responde a esta nossa necessidade de nos sentirmos incluídos no processo artístico através
do assentimento e acordo sobre o momento final de cada obra, tornando-se num factor de normalidade e de
pacificação que ajuda a resolver os problemas da recepção e assimilação que ela coloca. Ao não se dar sinais
objectivos que o seu processo se concluiu, estabelece-se um corte na sequência vertical de uma história que não
encontra o seu papel de atribuição de sentido. Sente-se que, quando adquirimos objectos, ficamos na posse de
pequenos traços automáticos de elaboração repetida que identificam a sua conclusão e conferem ao trabalho
neles produzido uma autenticidade e um sinal de acabamento sobre determinado pelo seu último acto.
Possuímos uma assinatura. Pensamos, então, em quais seriam as intenções deste indivíduo que vai construindo
as suas obras sobre diferentes formas e conteúdos, que se exprime de um modo desordenado, utilizando de uma
maneira descomprometida todo o tipo de materiais e de suportes, deixando-se envolver num processo quase
clandestino do agir no qual se compreendem apenas as sucessivas voltas que a sua aparente e intempestiva
actividade deixa revelar. Quais seriam então as motivações e as soluções interiores desse mundo do sensível que o
artista encarna e terão provocado este conjunto de factos tão invulgares, contidos nos diversos trabalhos que são
considerados como levados a efeito?
Imaginamos, então, uma pessoa que vai todos os dias a um atelier, retira um caderno de uma estante, senta-se
comodamente num banco e, ao lê-o calmamente durante vários dias, vai inscrevendo pequenas anotações.
Quando termina esta operação, assina-o e volta a pô-lo muito naturalmente no mesmo lugar. Finaliza esse acto
de criação com um apontamento, acrescentando-lhe um sinal da sua presença, um aviso, uma intromissão. Se
pensarmos que tudo isto se passa no mais completo segredo, no interior de um lugar resguardado dos olhares do
público, admite-se que poderia tratar-se de um novo mecanismo de subversão contra todas as banalizações do
instante da criação, que tem estado, por vezes, sujeito aos mais estúpidos tratamentos mediáticos. Observar o
gesto que culmina o limite do fazer artístico pode redundar numa série de banalidades infinitas sugeridas pelo
olhar penetrante da retina ou pela captação mecânica da máquina de fotografar ou de filmar. Ao olhar os
trabalhos de HC lemos pouco, e cada vez menos, as realidades donde partiram os factos neles circunscritos numa
disposição de símbolos e sinais que a linguagem acrescenta a estas realidades indizíveis. São actos em suspensão,
sem um desfecho de uma causa ou efeito que claramente definem um desinteresse sobre uma finalidade
terminal. São espaços em aberto, dispostos na contingência dos acasos que se lêem como se tivessem de ser
recomeçados a todo o momento e que, por isso mesmo, não estruturam compromissos. Ter acesso às obras, lê-las
e contaminá-las com o nosso olhar dispensa uma assinatura, um sinal legível que será, neste sentido, uma
oportunidade para o artista não agir, insinuando um novo contra-activismo da apropriação sem adquirir
propriedade. Como se pudéssemos ir para as livrarias ler livros e, no fim de cada leitura, colocássemos em cada
um deles as nossas assinaturas, provocando uma infracção sobre a propriedade de quem vai chegar depois para
comprar o objecto que, entretanto, se transformou em coisa do anónimo que o assinou. Quem lê anonimamente
numa livraria ou olha individualmente numa exposição coloca uma marca pessoal e indecifrável sobre os
objectos ou peças de arte, como se no final de cada uma das suas leituras assinasse um símbolo secreto de posse
sobre os livros ou as obras expostas. Este acto inconsciente sugere a actividade furtiva de assassínio vitimando os
direitos da cultura, negando o valor da compra e das práticas comerciais de todo o negócio que lhe está
subjacente. Quem chegasse depois deste momento totalizador ficaria a saber que outros já por lá tinham estado
nele e haviam colocado uma marca, retirando assim a pulsão da aura de cada primeiro olhar que o acto de ler ou
de observar arte necessariamente convoca. O gozo não se pode assim revelar naquilo que se sente já ter sido
consumido pelo olhar de um outro que dessa maneira deixou a sua marca. Curiosamente, o objecto artístico não
será nunca destruído por um sinal colocado numa obra que se apreende pela primeira vez ou que se observa sem
restrições, mas sim pela incapacidade de se superar a exclusividade do acto de possuir pelo olhar. O trabalho de
HC pode ser o testemunho de um acto refinado de recusa sobre um negócio, que matará positivamente a lógica
de propagação do mercado da cultura individualista. Num mundo onde o consumo individualista e hedonista
não se distancia do estatuto legítimo do proprietário, e onde se cruzam difusas relações de mercado, esta arte
infiltra nele ideias de satisfação e de prazer vividas serenamente, rejeitando noções de posse plena ou de
propriedade absoluta.