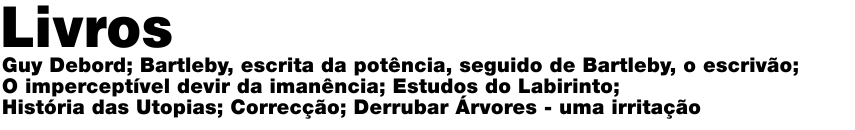AUTOR: IVO MARTINS
EDIÇÃO: Revista Op. #27 DATA: Outubro de 2009
Anselm Jappe
Guy Debord, Antígona, 2008
Todos os livros são resumos. Para quem escreve o mais difícil é, muitas vezes, seleccionar as partes capazes de nos
revelarem o lado mais escondido de alguém. No princípio todos temos esse ponto escuro dentro de nós, mas com
o tempo e as experiências da vida só um apurado sentido de intimidade, desenvolvido pelos mais sábios, será
capaz de guardar e preservar esse lugar obscuro que nos estrutura permanentemente. No livro de Alselm Jappe
sobre Guy Debord sente-se que nos está a ser revelado um ser, alguém que foi capaz de estabelecer uma
estratégia de vida, alguém que não se deixou triturar pelo rolo compressor da sociedade. Ao ter optado por uma
vida solitária de enfrentamento, imediatamente reafirmou dispensar as aprovações e execrações da opinião
pública e ao afastar-se de todas as carreiras manifestou desde logo o seu desdém generalizado por todos os
sistemas de interesses.
Poderíamos contar algumas das suas histórias e narrar alguns dos acontecimentos mais marcantes da sua vida,
mas o que nos interessa nesta personagem com uma forte carga humana é o seu apurado instinto de
sobrevivência, a forma como este homem a partir de uma dado conjunto de elementos que caracterizavam a
sociedade do seu tempo, foi capaz de racionalizar e desenvolver e criar constantemente novas formas de actuação
anti-sistema.
Herman Melville; Giorgio Agamben
Bartleby, escrita da potência, seguido de Bartleby, o escrivão, Assírio & Alvim, 2008
Em 1853 Herman Melville publicou um pequeno texto intitulado “Bartleby”, certamente sem nunca imaginar
como uma história tão simples e curta teria tantos efeitos benéficos nas consciências futuras e tantas
consequências simbólicas nas escritas que lhe haveriam de suceder. O seu tamanho não deixava antever grande
futuro. No entanto, todos os resultados negam este pressuposto e começa a ser visível a necessidade de se voltar a
este texto. A que move os artistas a retornarem a este livro têm a ver com a sua eficácia e com uma potência que
cada uma das suas abordagens soube empreender: o conteúdo do texto profetizava uma possibilidade - a
capacidade de ser olhado e observado intensamente. A figura de Bartleby vai assim actualizar-se
permanentemente no tempo como um imaginário que não tem princípio, nem fim. O dinamismo vivo deste
modelo torna possível a sua recomposição, expressa na rejeição da sua imutabilidade. As formas que fazem esta
repetição estabelecem uma harmonia e uma virtude. Esta figura insípida, amorfa e anódina, passa a inspirar
uma série de profecias retiradas do seu próprio substrato, desimpedindo restrições estéticas e criando contrastes
através de uma visão comparativa deste brilhante modelo com outras figuras mais actuais. Há uma
intemporalidade reencontrada sobre o efémero e o particular que se manifesta num mundo sucessivamente mais
especializado e burocrático. “Bartleby” é uma metáfora, deixou de ser pessoa para passar a ser símbolo. Este livro
retoma mais uma vez tudo o que se foi acumulando sobre si mesmo, um inventário de detalhes que se insinua e
estimula a nossa curiosidade vouyerista, e conta como vai terminar mais uma história sobre a narrativa que
nasceu há 150 anos e que ainda movimenta os homens na sua direcção, numa procura sagrada de segredos,
numa exploração religiosa de todas as descobertas.
José Gil
O imperceptível devir da imanência, Relógio d' Água, 2008
Este livro revela algumas realidades brutais e nostálgicas sobre cada um de nós. Segue Gilles Deleuze na sua
filosofia da diferença e lança-nos muitas questões sobre o papel da sua obra na invenção de conceitos. Não sendo
comunicativa nem contemplativa, toda a filosofia tem de ser criadora se aspirar sobreviver. Para serem úteis, os
seus conceitos deverão ser necessários na medida em que reflectem as realidades, mas igualmente estranhos na
medida em que correspondem a verdadeiros problemas ainda por solucionar. Ao percorrermos este livro ficamos
como uma sensação de incapacidade de compreensão acerca das realidades a que diz respeito. Sondar as
profundezas dos abismos expostos em cada conceito e o tempo dispendido através de muitas gerações de filósofos
que pensaram e exploraram os seus limites é um trabalho grandioso de pesquisa impossível de realizar. Esta
impotência faz com que as afirmações se transformem em interrogações, as quais podemos ir detectando no
decorrer das nossas leituras, numa atitude suficientemente capaz de sobreviver à concorrência das inúmeras
solicitações exteriores. Podemos criar algo que se constrói através de um plano, o qual, por sua vez, se expande,
acrescentando uma nova área às procedentes. Podemos explorar um território, e simultaneamente preencher um
buraco, tapando o vazio do nosso conhecimento. Mas o abstracto nunca se explica e, nesse sentido, é ele quem
deve ser explicado. Assim, tudo nos aparece como processos que podem revelar-se na união daquilo que já
pensamos, nos mecanismos mais subjectivos ou racionais, nas tentativas de salvar mal-entendidos que são
sempre reacções agressivas de estupidez porque há pessoas que se sentem inteligentes quando descobrem
contradições em alguém que é capaz de pensar melhor que elas.
Károly Kerényi
Estudos do Labirinto, Assírio & Alvim, 2008
Este livro composto por vários textos que no seu conjunto são um curioso estudo sobre o enigmático desenho do
“Labirinto”, é um misto de livro de viagens e história sobre os povos que no interior das suas culturas adoptaram
formas aproximadas da matriz original oriunda de Creta. Realiza-se nesta obra um invulgar processo de
cruzamento entre várias apetências, da literatura à filosofia, que nos revela a importância da perda da noção de
tempo que traz consigo todo o grandioso peso da sua perda. O labirinto encarna o lado incalculável do tempo,
aquilo que nos escapa e acontece entre duas datas - a de entrada e a de saída. A primeira, sendo mais precisa do
que a última é então o princípio de um movimento inverso àquele que nos aparece na nossa própria vida.
Aprendemos a perceber como é mais fácil registar o dia da nossa morte do que o dia do nosso nascimento. No
labirinto, estas duas coordenadas perdem todo o seu sentido porque não é possível contar aquilo que se passou
para lá da mera facção da nossa sobrevivência. O labirinto não se dirige aos vivos. O que se inscreve no seu
interior é uma forma de perda de identificação, da mesma maneira que as pedras tumulares são cartas
endereçadas aos mortos, escritas na esperança de que não seja atribuído outro nome aos que partiram
recentemente. Tudo parece estar determinado para ter um princípio e um fim, mas o labirinto baralha estes
dados, inverte as suas posições e retira do seu interior um sentido ritual, uma volta em forma de círculo sobre um
tempo sentido como uma totalidade e, por isso mesmo, impossibilitado de se fragmentar em pequenos tempos. O
labirinto actualiza-se como forma desenhada através dos tempos e o seu interior continua cada vez mais aberto
numa sociedade zombie, onde alguém que está morto e é incapaz de se defender da sua condição de dominado. O
que exprime vontade de agir no mundo transforma-se imediatamente num espaço ambíguo de actuação, espaço
fendido e variável de onde se podem extrair novas superfícies de actividade. As imagens proliferam mais
rapidamente do que as palavras e o desenho do labirinto ultrapassou todos os limites da cultura e da linguagem
porque se tornou somente imagem com auto-movimento, a percorrer um mundo que estava fechado sob o peso
das inúmeras limitações de comunicação.
Lewis Mumford
História das Utopias, Antígona, 2007
A cada época que passa os homens reconstroem uma ideia de mundo novo. Ao desejarem superar o passado e
eternizar uma ânsia de felicidade e bem-estar, imaginam sociedades perfeitas e sensíveis onde as pessoas seriam
respeitadas pelas suas próprias qualidades, sem recurso a expedientes oportunistas de falsificação e de
aparência. Sabe-se que esse tempo nunca chegou e desses momentos de esperança restam apenas umas tantas
ruínas ideológicas que se renovam e actualizam a cada presente. A “História das utopias” revê várias formas de
superação que se desencadearam ao longo dos tempos, seguindo uma ordenação cronológica já muito explorada
e trabalhada noutras publicações similares, o que não interfere em nada na importância nem no interesse que
este livro contém. O espírito implica a existência de pensamento. Ele é a matéria que estabelece a relação entre
aquilo que entendemos e aquilo que não podemos compreender. As utopias são olhos humanos debruçados sobre
novas construções societárias que nunca poderão ser encaradas como possíveis, o que impede, desde logo, que
tudo aquilo que elas representam seja transposto e incluído na nossa realidade de uma forma total, sendo este
contexto repartido e fragmentado o único espaço propício a se observarem formas inocentes de desafio face à
existência.
Este livro é um interessante esforço de estruturação sobre esse lado falhado da humanidade, reunindo um
conjunto de ideias estranhas e impraticáveis que prenderam o espírito humano ao longo dos séculos, tornando-o
refém de si mesmo, enquanto se sonharam livremente formas absolutas de alteração e mudança, tão necessárias
ao equilíbrio e à renovação de todas as esperanças.
Thomas Bernhard
Correcção, Fim de Século, 2008
As narrativas podem ser construídas sem uma finalidade preestabelecida e o seu objectivo pode não ser mais do
que a revelação de uma história específica sobre alguém em concreto. O conjunto de acontecimentos descritos
nesta obra assume uma circularidade de sentido e de significados que, relida várias vezes, vai potenciando o
aparecimento de uma linha orientadora focada sobre uma só pessoa: Roithamer - ou aquele que insurge
sucessivamente como a personagem principal deste livro. As narrativas contêm histórias porque temos
necessidade de as ler. Tudo o que está escrito e tudo o que se explica neste livro indicia a inutilidade e
superficialidade de todas as coisas que nos rodeiam. É importante apresentar desfechos vários para vencedores e
vencidos em campos de batalha longínquos que não permitam observar de forma conclusiva a sequência de
confrontos havidos. As vitórias e as derrotas são por si só monólogos delirantes de triunfadores e derrotados. São
coisas contadas, que têm a virtude anestesiante de nos consolar e de (aparentemente) prometer. Os factos
descritos devem conter a esperança de que as experiências vividas não podem jamais desvanecer como se nunca
tivessem acontecido. As memórias são momentos baseados no poder das palavras. Recordar equivale a
reconhecer, dar abrigo a vivências e a experiências que podem nunca ter decorrido, mas que são nossas e fazem
parte da nossa história. Este desfasamento entre o real e o ficcional vai dependendo da relação das palavras entre
si e de como elas se sobrepõem àquilo que todos nós consideramos como razoável pensar e que, efectivamente,
poderá suceder-se, apesar de nunca ter acontecido.
Thomas Bernhard
Derrubar Árvores - uma irritação, Assírio & Alvim, 2008
Toda a escrita de Thomas Bernhard é autobiográfica. Todos os seus modos de escrever pertencem-lhe e
exprimem um intenso lado cínico que possui e alimenta uma generalizada descrença sobre tudo o que o rodeia.
Os seus livros descrevem seres amorfos e inoperantes, totalmente perdidos e abandonados, no interior de uma
sociedade burocrata hiper especializada que aparenta nas suas manifestações quotidianas a maior das
satisfações. Thomas Bernhard procura situar-se neste mundo que ele próprio rejeita e despreza, movendo-se
como um ser fechado numa casa de reclusão. Descreve-nos as movimentações patológicas e as dores, envoltas de
um apurado sentido crítico, por vezes profundamente irónico, outras perigosamente decadente. Todas as
descrições são expressas em momentos de uma poderosa carga humana. Parece que ao encontrar nas mais
variadas desculpas, todas justificações possíveis para aceitar tanta vulgaridade e mundaneidade, os homens
tornaram-se seres disparatados e cruéis que circulam sem direcção, seguindo rotas automáticas de satisfação
para todos os seus desejos mais imediatos e avulsos. Assim, o autor descreve a interacção entre pessoas estranhas
e estúpidas que não se estruturaram e que não se dão ao respeito, seres indignos de se assumirem como cidadãos,
que se deixam facilmente humilhar na corte dos interesses por onde tentam sobreviver. Em “Derrubar árvores”
Thomas Bernhard liberta o seu ódio sobre uma Áustria caricatural, um país menor e mesquinho que não se
cultiva nem se cuida culturalmente. Aos seus olhos, tudo surge como um teatro de aparências, um terreno
fugidio, superficial e ambivalente, repleto de actos gratuitos rodeados de boas maneiras, numa conjuntura
incapaz de perceber o desperdício e o ridículo das suas manifestações mais exuberantes. E tudo se passa como se
não existisse ninguém, como se o autor estivesse a deambular entre espectros que passam por si como sombras
sobre o cinzento amorfo de uma cidade abandonada.