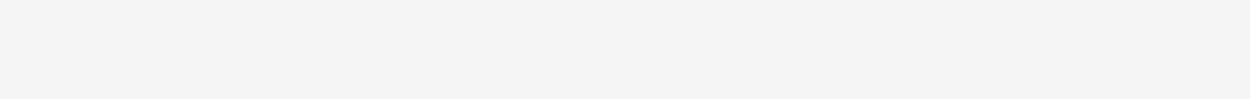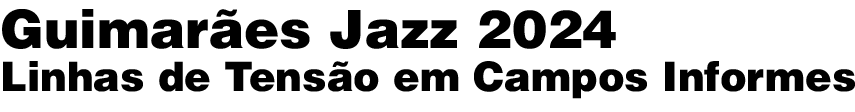AUTOR: IVO MARTINS
EDIÇÃO: Guimarães Jazz 2024 - Câmara Municipal de Guimarães/ Associação Cultural Convívio/ A Oficina DATA: Novembro de 2024
Para ouvirmos música é necessário percebermos o que nos rodeia; porque na arte, assim como no jazz, temos de aprender a idealizar e gerir essa idealização dos nossos pensamentos, sendo esta gestão provisória uma vez que está permanentemente na iminência do esquecimento e da substituição por novas ideias. Na nossa conceção, pensar o jazz significa fazermos explorações introspetivas e reflexões sobre a nossa capacidade de imaginarmos, criarmos e detetarmos delimitações e fronteiras técnicas numa arte que nunca teve linhas separadoras estabelecidas entre os diversos territórios por onde foi caminhando ao longo do tempo. O jazz foi sempre uma espécie de ponto de encontro entre músicas e pessoas num espírito de livre circulação, baseado num trabalho intensivo e espontâneo que determinou a descoberta de novos campos específicos de atuação na arte musical.
No jazz, quando não temos tempo suficiente para escutá-lo, ficamos à superfície e não aprofundamos; quando não vamos além de audições parciais, o que nos aparece são sombras, coisas incompletas, espectros sonoros, reflexos de sons que, sendo desconcertantes e impermanentes, soam manifestamente iguais. Nessa vertigem, o que fica das nossas audições são meros lampejos de assimilações (visões macroscópicas, passagens genéricas, perspetivas generalistas) onde as noções que adquirimos são indefinidas, ou seja, sem a devida projeção de contrastes, à deriva num cosmos composto de uma miríade de contactos em grande escala impossíveis de processar na sua totalidade. Ficamos, assim, incapazes de discernir pormenores interessantes, explorações de particularidades extremas, passagens arriscadas cujo aspeto, embora parcial, representa solidez, conhecimento, sensibilidade. Em síntese, sem contrastes o jazz perde tensão.
Quando passam ao lado dos problemas do nosso tempo, as formas musicais desencontram-se da realidade, deformando-se, deturpando-se e desviando-se do seu propósito último. Nesse processo, os ouvintes desligam-se do que escutam porque se desligam uns dos outros; e como nos desligamos uns dos outros no meio de muitos interesses e de pessoas como nós, só conseguimos entender o jazz em pequenas frações. Hoje, o que vemos à volta do fenómeno musical são situações fraturadas feitas de sons inconsistentes; o que a rede digital nos mostra e reúne são tonalidades musicais indiferenciadas, sons diluídos, zonas musicais repartidas, totalidades incertas e sem sequência, disseminadas por campos informes de ecos dispersos que não conseguem nem direcionar o nosso ouvido, nem orientar a nossa sensibilidade enquanto ouvintes.
Numa visão mais radical deste contexto, podemos imaginar que a música pode caminhar no sentido de uma diluição sem retorno; uma diluição que liquefaz a nossa identidade e que, com o passar do tempo, pode representar perdas irreparáveis para a sensibilidade humana. A História prova-nos que é possível viver num vazio sonoro, na medida em que os sons que nos aparecem não pertencem a ninguém e, nessa falta, é inevitável a perda de uma noção de unidade. Considerando que escasseiam no jazz atual elementos comuns de identidade e de reconhecimento, este torna-se uma manifestação musical sem centro, ou uma centralidade que se autorregula de modo permanente. Mas a música que recebemos não nos permite distingui-lo no meio de muitas outras músicas atualmente produzidas em grandes quantidades e em circulação num mercado livre de obstáculos. No entanto, foi esta relação de identidade com o jazz e com a música o elemento essencial de referenciação e reconhecimento que nos ajudou a chegar até aqui.
Atingido este ponto de situação, impõem-se as seguintes interrogações: e se não tivéssemos uma ideia de jazz? E se as suas ferramentas de identificação não existissem ou não fosse possível detetá-las de modo mais ou menos evidente, tal como acontecia no passado? O que aconteceria então?
//////
Atualmente, as representações do jazz possuem um espectro mais global, mais diverso e, em certa medida, mais impessoal; podemos também acrescentar que as formas atuais da música são, em geral, mais difíceis de distinguir entre si, enganando facilmente os ouvintes menos atentos e menos conhecedores do fenómeno. A música do presente parece-nos mais aberta, mas é, ao mesmo tempo, muito mais mediada; e esta mediação comunicacional interfere nas nossas atividades quotidianas porque a produção musical do presente, parecendo à superfície mais livre, está mais circunscrita e condicionada pela tecnologia. Todas estas situações tanto se manifestam de modo evidente como representam, em muitos casos, processos invisíveis de propagação adaptados aos espíritos e ouvidos menos sensíveis.
Quando inserimos o jazz na abrangência e magnitude da realidade internética, temos a sensação de que a música diminuiu no seu tamanho; e, ao mesmo tempo, sentimos que as tendências para a combinação de sons também se acentuaram, adquirindo novas dimensões. Deste modo, acabamos por compreender que o fenómeno jazzístico se intensificou no decurso dos anos mais recentes, desenvolvendo novas configurações, abordagens inovadoras e movimentos diversos, criando neste processo novas polaridades. Para nós, é importante sabermos em que medida e em que termos esta música está em transformação, isto é, a transformar-se e a transformar-nos; em que medida é que, ao sermos confrontados diariamente com inúmeras inovações tecnológicas, estaremos também a ser estimulados para aderir a diferentes aparatos de divulgação cada vez mais sofisticados, cada vez com maior capacidade para influenciar audiências. É evidente que a música vive atualmente numa conjuntura difusa, incerta, ambivalente e, à semelhança de todas as restantes dimensões das sociedades contemporâneas, altamente complexa, cujos fatores e elementos de compreensão são imensos e ao mesmo tempo inconsistentes. Assim sendo, sentimos que o alcance das nossas tentativas de entendimento está cada vez mais limitado e dependente de sistemas de divulgação sustentados pela força da comunicação e da informação que recebemos; e esta informação comunicável está em toda a parte, tratando de maneira intensiva e indiferente todos os tipos de música – géneros, formas, estilos – categorias que são, muitas vezes, simultaneamente musicais e não-musicais.
Uma parte substancial do nosso conhecimento é suportado pela evidência dos números que a rede digital exibe diariamente, mas que nada nos dizem de consistente; vemos o número de exposições, de concertos, de publicações, de discos, de registos, de visitantes, de seguidores, de espectadores, de aquisições, de visualizações, de likes, de downloads e de tantas outras, quase infinitas, categorias estatísticas. Somos diariamente bombardeados por estes números num espaço interativo em expansão que dificulta a capacidade do ouvinte em construir uma ideia consistente de jazz. Perante esta falta, que se afigura tanto mais grave quanto mais pensamos no potencial tecnológico da rede, é relativamente fácil ficarmos deslocalizados, não-situados, desinstalados, numa imensa superfície sem limites cujo impacto nos atinge e transforma as bases de compreensão estruturadas ao longo do tempo e as quais, no passado, nos permitiram alcançar uma ideia de jazz.
Não surpreende, portanto, que atualmente uma das questões mais importantes no seio da música atual seja a possibilidade de esta cair numa espécie de entorpecimento artístico, uma disfunção causada por doses excessivas de procedimentos monocultura, principalmente quando aquela é artificialmente produzida e processada por forma ser comercializada. Mas, paradoxalmente, vamos aceitando, sentindo e intuindo este processo algo estranho quando navegamos na aparente diversidade da rede; nela, é corrente surgirem muitas vezes visões contraditórias, desvios evidentes que o meio internético permite atenuar ou esconder. Não basta dizer que somos mais livres; que temos pensamentos mais amplos; que projetamos visões mais largas; que possuímos sensibilidades mais abrangentes – se o que é um facto que o conteúdo arquivado na internet nos remete permanentemente para processos uniformes, regulares, repetidos e infinitamente replicados. Na rede há uma espécie de mimese a grande escala, permitindo que os assuntos se multipliquem velozmente através de procedimentos intensivos de imitação e reverberação.
//////
Porque vivemos numa realidade algo complacente com a falsificação, as falhas de conhecimento que lhes estão implícitas são irrelevantes e as causas que complicam a nossa capacidade de entendimento do fenómeno cultural são desvalorizadas permanentemente por processos propagandísticos de simplificação. Quando olhamos friamente para a realidade, não podemos senão concluir que estamos a ser colonizados por um amplo processo de propaganda que dificulta estratégias de fuga às suas influências. O mercado é, e sempre foi, um campo de ação vastíssimo que tende a colonizar e a colocar sob o seu escrutínio os nossos conhecimentos e comportamentos; sendo que a sua influência está posta ao serviço da cultura e do pensamento, impedindo assim que consigamos desenvolver perceções minimamente consistentes. Sabemos que, por forma a autonomizarmo-nos e pensarmos com a nossa própria cabeça, precisamos de agir de maneira a encontrar saberes, conhecimentos, combinações possíveis entre diversos formatos de expressão, não condicionadas por configurações monocultura; sabemos que, confrontados com estas circunstâncias, temos de encontrar linhas de fuga de um sistema que nos remete para cópias e falsificações da realidade que mudam os nossos níveis de perceção, quer em termos culturais, musicais, sociais, políticos ou económicos; e intuímos também que quanto mais associarmos as nossas ideias a elementos sensíveis fabricados por nós, baseados em aprofundamentos e em níveis de exigência, de disciplina e de rigor, mais capazes seremos de nos defender dos efeitos e influências propagandísticas. Mas a verdade é que, apesar das promessas e expetativas no sentido contrário, a conclusão a que chegámos ao final destes últimos anos de evolução meteórica do mundo digital é que a internet nos dá uma margem muito curta para sermos autores dos nossos próprios caminhos; e que neste contexto estamos cada vez mais reduzidos a sermos um produto do nosso tempo: ou seja, indivíduos confrontados com doses maciças de propaganda.
Um elemento comercialmente invasor persiste no interior da música como se fosse um microrganismo, um elemento que se reproduz e vai progressivamente enfraquecendo, debilitando e desvitalizando o seu hospedeiro musical. As manifestações propagandísticas deixam marcas, uma vez que alteram as nossas formas de relacionamento com a música ou a maneira como a descobrimos. O mais estranho de tudo isto é perceber que a propaganda está em toda a parte, sendo aceite e tolerada por todos, apesar de todas as suas loucuras e excessos. Estas amplificações reativas incluem-nos a todos e, obviamente, incluem também os artistas e os agentes culturais, mesmo aqueles que se autoproclamam radicais e independentes. Nesse sentido, se pensarmos no indivíduo global que navega pela rede digital, percebemos como este ser é uma presa fácil da cadeia dos acontecimentos, sendo ele o produto e a consequência de um fenómeno irreversível de interação comunicacional que tende a colonizá-lo num território globalizado gerador de grandes influências e destruidor de uma ideia de futuro – porque na globalização só há presente.
As estratégias propagandísticas vão no sentido de induzir o indivíduo a praticar determinados comportamentos, comportamentos esses que não são senão manifestações seguidistas, imitativas, letárgicas e negligenciáveis, que nem assentam em ideias próprias, nem são construídas pelas cabeças de quem escuta. Numa perspetiva mais intransigente desta abordagem, não podemos deixar de pensar que este ouvinte é um ser cada vez mais desprovido de ideias, um homem sem qualidades envolvido numa nuvem de apatia que o desvitaliza e lhe subtrai a própria alma. Assim sendo, podemos dizer que a propaganda que interfere na música desenvolve um ouvinte que não é autor de coisa nenhuma, uma pessoa indigente, manifestamente desatenta e permanentemente apática, favorecendo desta maneira a expansão da má música e de estados de anomia e desmoralização.
Feito este balanço, podemos dizer que o ouvinte foi transformado no objeto de um jogo de desinformação de soma negativa; isto quer dizer que quem ganha, ganha tudo, sujeito a níveis elevados de radiação propagandística num processo de exposição que lhe retira capacidade crítica. Este ouvinte fica assim musicalmente emparedado, limitando-se a ouvir o que se encontra à sua frente porque a propaganda, além de criar dependências, anula, vicia e contamina o interior das pessoas. O ouvinte tornou-se uma caixa de ressonância, mero recetor de sugestões, um espaço vazio de ideias inculcadas por estranhos; e todos estes procedimentos acontecem em conjunto, acumulados no interior de uma máquina internética cada vez mais interativa, gerida pelos algoritmos e por formas de inteligência artificial sustentadas em tecnologias sofisticadas capazes de agir de modo invasivo, induzindo formas de atuação calculadas e de comportamentos previsíveis. Face a todas estas coisas, é natural que as melhores argumentações desapareçam, restando-nos apenas a vacuidade das palavras.
//////
Onde se formatam discursos maquinais em forma de écran plano, não há debate possível. No écran as pessoas falam de tudo sem manifestarem compromissos com as suas ideias, como se estas andassem permanentemente de boca em boca, isto é, sujeitas à aleatoriedade da individualidade dos outros e da sua imprevisibilidade. Sem um contacto individual entre pessoas que nos possa tornar mais empáticos e humanos, a ação comunicativa esvai-se em pequenos nadas porque o monitor substitui a necessidade do contacto cara a cara, prescindindo de entendimento. Os olhos deixam de ser olhos a partir do momento em que o écran permite que o utilizador se esconda por detrás de falsas identidades e falsas informações. As relações no écran terminam com um simples toque do dedo que apaga as imagens das pessoas que por ali aparecem. Não sabemos exatamente se podemos chamar a estas ligações tentativas de diálogo, uma vez que os indivíduos internéticos já não nos questionam com o seu olhar; no mundo digital o olhar dos indivíduos foi subtraído; e face a todas estas experiências é natural que sintamos a ausência do outro, que lamentemos a falta de uma presença. Estas entidades foram substituídas pelo uso inflacionário dos discursos, os quais têm sido alterados através de narrativas artificialmente estruturadas onde se misturam diferentes ferramentas de comunicação; e no meio de todas estas narrativas persiste em nós um estranho vazio.
Com os avanços da tecnologia continuamos sem perceber como vamos proteger as causas da nossa falibilidade aplicada a processos de seleção e avaliação de projetos, em muitos casos feitos por inteligência artificial generativa. Esta última pode ser programada para rejeitar as melhores propostas só porque estas são problemáticas e não geram tantos rendimentos; e estas formas de rejeição tendem a beneficiar a mediocridade que vai também proliferando na internet. O que tem acontecido, e que quanto a nós é muito grave, é que as piores soluções são as mais toleradas e até favorecidas. Neste processo estruturam-se novas consolidações da rede que se projeta cada vez mais em conjunturas similares. As configurações são frágeis nas suas lógicas e capacidade de alcance, e esta realidade serve para deformar, deturpar e desviar o objeto musical da sua principal finalidade, do seu fim maior, que é o de dotar a música de um potencial de mensagem capaz de expressar problemas, pontos de vista e valores.
Perante este cenário, torna-se evidente que a informação mais valiosa é aquela que desencadeia um intenso trabalho de supressão; isto é, a informação é tanto mais valiosa quanto mais difícil se torna conhecê-la, e daí advém a sua aura. De certa maneira, a presença da censura é sempre uma oportunidade, na medida em que quando as corporações, instituições ou governos tentam conter e suprimir o conhecimento, essas entidades estão a indicar quais são as informações mais importantes que devemos conhecer, dando assim a entender que existe algo que vale a pena ser exposto e que a censura tenta esconder.
Sabemos que todas estas questões são complicadas e difíceis de explicar e perceber, muito principalmente quando as aplicamos à arte, à música ou a outras expressões artísticas; no entanto, há quem diga que estamos no interior de um jogo de sorte e azar, cujas regras desconhecemos em absoluto, mas, estranhamente e contra todas as expectativas, gostamos de jogar, embora não saibamos se alguém conhece ou compreende para onde vamos neste jogo e o que, realmente, estamos de facto a jogar. Talvez estejamos todos no meio de um jogo com provas de aferição retardadas e exista nisto tudo uma espécie de ganho de ocasião que é preciso aproveitar. Quanto às consequências, é preciso esperar e logo veremos; neste momento, o mais importante é ganhar o momento e tirar o maior partido dele; se esta experiência é ou não positiva, o tempo o dirá.
//////
Os cientistas costumam afirmar que não é possível termos uma certeza absoluta sobre todas as coisas, e nós sabemos que têm alguma razão no que dizem, pois, quantas vezes somos confrontados no nosso dia a dia com diferentes perspetivas acerca do mesmo assunto? Esta diferença obriga-nos a comprometermo-nos com um sem número de experimentações complementares sobre o que pensamos até atingirmos, ou não, uma conclusão, conclusão essa que nunca é, porém, definitiva. Conclusões deste género são, pela sua própria natureza, um processo fomentador de dúvidas e não de certezas, porque são as dúvidas aquilo que põe em causa muitas das nossas descobertas, a começar desde logo pelas nossas decisões. Mas quando passamos para a arte, a música ou, no caso que nos importa, o jazz, sentimos que vivemos ainda mais intensamente estas problemáticas uma vez que nos situamos em campos de conhecimento diferentes; perante a arte, a pessoas são confrontadas com outros tipos de problemas que têm a ver com a sua perceção intuitiva e racional, onde existem diversas formas de ver, de ouvir e de sentir. Esta variedade dificulta o nosso trabalho de interpretação e análise, complicando as tentativas que fazemos de maneira acharmos a melhor solução; porque a grande obra é, na sua essência, um caso por resolver, algo que encerra um processo subjetivo, logo discutível, aberto e múltiplo na sua essência. Nesse sentido, podemos afirmar que a falta de certezas nos confere uma vantagem que nos remete para o excesso de interpretações.
Se os nossos procedimentos de apreensão são atípicos, tanto melhor para nós e para a música porque não existem modelos fixos a seguir e, nesta mecânica de escuta, quanto mais criativos, ousados e atrevidos formos, melhores seremos nas nossas capacidades de análise e mais capazes nos tornaremos de desencadear novas formas de pensar. As relações no jazz e na música podem ajudar-nos a compreender a aleatoriedade de determinados processos que unem músicos e pessoas, e neste contexto encontramos um exemplo interessante na maneira como Thelonious Monk fala da sua experiência de colaboração artística com John Coltrane: “Às vezes, ele tocava um esquema próprio de acordes alterados que deferiam dos que eu tocava, e nenhum de nós tocava os acordes da peça. Caminhávamos para um ponto determinado e, se terminássemos juntos, podíamos ficar felizes. Coltrane aparecia nos momentos decisivos e salvava-nos. Muita gente perguntava como podíamos dar conta de tanta coisa, mas nós não tínhamos muito que dar conta. Apenas os acordes fundamentais e cada um partia para o que quisesse”. Nesta dinâmica, os músicos e a música são os enigmas que exigem respostas dos ouvintes.
Quantas vezes não é a música a chave que nos abre a mente a novas portas de perceção, que nos atira para outros horizontes e novos caminhos que antes não sabíamos sequer que existiam? E, no entanto, muitas destas coisas estavam já em nós, ainda que de maneira larvar; existiam no nosso interior, estando prontas a explodir a qualquer momento, precisando apenas para isso de estímulos, capacidade de associação, experiências de escutas ou trabalho de compreensão. Nesse sentido, nós, músicos e ouvintes, agimos como se estivéssemos predestinados a passar por essas experiências, na medida em que nos faltava algo para desencadear este processo de descoberta. Todas estas coisas acontecem como se fossem um encontro ocasional e feliz com o destino, um momento a que muitos chamam epifania – ou, por outras palavras, uma transformação que fez eclodir sentimentos, emoções e sensibilidades em diversos níveis.
Neste caso, e considerando a instabilidade de todos estes elementos, podemos dizer com algum propósito que “errar é humano”; que todas as pessoas que conhecem o jazz mais profundamente sentem que podem facilmente falhar. No domínio desta música, as nossas afirmações não são retilíneas, ou são mais oblíquas, esdrúxulas e enviesadas do que em outros campos, orientando-se em processos descontínuos, disruptivos, holísticos e circulares em relação à aquisição de certezas. Por experiência própria, sentimos que, quando os nossos juízos e avaliações no jazz são partilhados, estes podem constituir visões coletivas, mais interessantes, mais consistentes e sólidas, alcançando, por essa via, uma menor probabilidade de erro.
//////
Hoje, não sabemos bem para onde vai a música, e particularmente o jazz. Temos dúvidas sobre o tempo que ele vai durar nas nossas memórias porque atualmente, quando ouvimos, parece que entramos noutra realidade, num mundo paralelo e diferente, algo que nos faz perder a noção de tempo e que nos remete para um campo de audição constante do presente, onde o passado e futuro contam pouco. Cada tipo de audição gera uma micronarrativa que geralmente assenta numa imensa atualidade, e a atualidade é um elemento fundamental que aparentemente confere ao jazz uma aura de autenticidade. Cada música tem origem em factos que contêm outros factos divididos, os quais se vão revelando, por sua vez, enquanto elementos desprovidos de gravidade informativa, de narrativas sem o peso da verdade. Por causa de todos estes fatores acreditamos menos nas coisas e na música, e desconfiamos mais do que confiamos; e, tal como em muitos aspetos na nossa vida, talvez não consigamos chegar a nenhuma conclusão interessante, muito menos quando as conclusões se nos afiguram pré-fabricadas e preconceituosas.
Nós gostamos de metaforizar as coisas que nos espantam, e a música não foge a essa regra. Neste contexto, o mito é uma espécie de abordagem assética que purifica e, de certa maneira, dá respostas às dúvidas e interrogações que alimentamos acerca das nossas origens e finalidades. Quando a nossa capacidade de escuta não consegue resolver os problemas, sentimos que conhecemos pouco sobre o que somos, quem somos, de onde viemos ou para onde vamos. Os mitos são construções que refletem o que somos e, neste sentido, nós mesmos, porque os detentores das palavras somos nós, os ouvintes, as pessoas que colocam palavras na música na tentativa de a explicar, atribuindo certas histórias mais ou menos mitológicas às coisas que nos sensibilizam e emocionam. Todos estes e outros sentimentos conferem-nos uma estranha sensação de superioridade, ou a ilusão de que estamos, de certa forma, a cumprir um destino.
Se formos suficientemente hábeis e capazes de dar uma unidade narrativa de critérios à música e ao jazz, talvez consigamos não perder de todo as nossas referências do passado e, deste modo, contruir ideias não totalmente enredadas em ilusões de atualidade, novidade ou contactos em tempo real – isto é, evitar criarmos dependências de abordagens que nos podem tornar perigosamente alienados. Com a defesa das nossas referências mais antigas e com o facto de não as esquecermos, talvez consigamos, no momento presente, ouvir melhor o jazz; e, por contacto, talvez seja possível criarmos uma unidade mínima de características identificadoras mais ou menos consistentes desta música que nos permitam reconhecer as principais referenciações. O ouvinte tem, em síntese, de enveredar por posicionamentos criteriosos, atentos, críticos e essencialmente livres, transformando assim o ato de escutar numa emanação do seu próprio pensamento, capaz de induzir reflexão e conhecimento.
Bibliografia / leituras sugeridas:
Boris Groys, Arte em Fluxo (Orfeu Negro, 2022)
Byung-Chul Han, A Crise da Narração (Relógio d’Água, 2024)
Jacques Ellul, Propagandas – uma análise estrutural (Antígona, 2014)
Steven Pinker, Racionalidade – o que é, porque parece rara e porque importa (Editorial Presença, 2021)
.