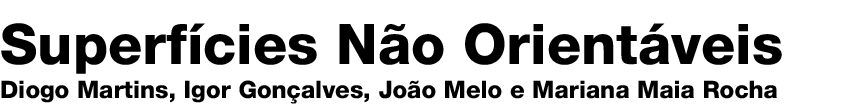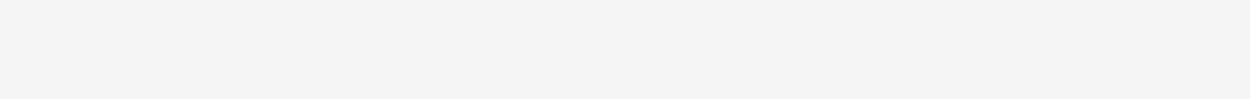
AUTOR: IVO MARTINS CITAÇÕES: "DE RERUM NATURA", LUCRETIUS
EDIÇÃO: (Catálogo) Centro Cultural Vila Flor DATA: Fevereiro de 2024
Quando começa... não acaba
A noção de um guião pré-definido sobre o significado de qualquer peça de arte é, no momento presente, uma abordagem suicida; e, no entanto, é inegável que existe na humanidade uma necessidade de histórias coletivas, que somos atraídos pelo misterioso e procuramos respostas especulativas para o desconhecido. Porque a obra de arte é por si só uma manifestação inquieta, algo sempre em movimento, coisa que foge e escapa tanto ao tempo, como ao espaço, ela parte de uma movimentação em fluxo, cuja corrente está repleta de casos, tópicos e assuntos
Além disso, quando o vento que circula nas cavidades da terra,
reunido de uma parte, se lança e oprime as profundas cavernas
aplicando-se com grandes forças, a terra tomba para o lado
que tentaremos captar ao longo deste texto. À semelhança do que aconteceu com os artistas durante a montagem desta exposição, também nós tivemos de cortar, fraturar, descontinuar, retirando linearidades, extraindo ordem, desarrumando cronologias; ou seja, reexpomos as ideias suscitadas pelas obra, representando-as, reassociando-as, reintegrando-as.
e arrastam consigo átomos de fogo arrancados à nuvem
e assim juntam muitos átomos de fogo, e fazem rodar a chama
No início, não existiu um ponto claro de referência que funcionaria como um ponto fixo para podemos trabalhar ideias, de acordo com uma perspetiva euclidiana; sem esse ponto fixo, impera sobre as obras uma certa desordem quântica, uma indeterminação exposta em elementos que se vão alterando com o olhar, sempre incontroláveis, sempre em mutação, onde tudo parece estar associado ao acaso, ao efémero, ao provisório, num contexto que se define a prazo.
mas cada coisa procede de acordo com o que à sua maneira
e tudo observa as distinções da natureza com uma norma fixa.
Quando observamos estas obras sentimos que há alguma coisa que ainda está em aberto; não estamos reféns de temas, processos, conceções ou evidências. Por isso, a exposição “Superfícies Não-Observáveis” remete-nos para a importância da obra inacabada enquanto parte de um conjunto maior impossível de vislumbrar na sua totalidade, ou da obra enquanto processo de fuga, recusa da vulgaridade e confronto com banalidade dos processos de construção atuais, rotinados e cristalizados em muitas das estruturações recentes das imagens. Esta grandeza é feita de sucessivos atos parciais, sempre incompletos, desencadeados em etapas e inscritos num enorme movimento em progressão, cujo campo de visão se refaz constantemente, embora sempre limitado, sempre simultâneo, sempre semiaberto, muitas vezes fechado. Estas obras ocupam espaços e também fazem o seu e o nosso espaço; realizam uma integração que podemos chamar contexto, e no qual cada peça é refeita caso a caso, definindo-se num olhar.
Depois, normalmente, uma descoberta nova e melhor destrona-o
e muda os nossos sentimentos em relação a tudo o que havia antes.
Ao longo do nosso percurso pelo espaço expositivo vamos encontrando elementos transversais a todas obras, que nós unimos e compatibilizamos segundo as nossas referências; e quando os trabalhos, expostos na sua variedade e multiplicidade, vêm ter connosco, nós formamos rotas de orientação que nos permitem construir compatibilidades onde tudo se afasta, tudo se liberta e tudo cria distância na construção de corpos (peças) subjetiváveis.
Pode ser também que todo o céu esteja fixo,
enquanto os astros brilhantes se deslocam,
ou porque com eles estão encerradas violentas correntes de éter
Enrique Vilas-Matas chama obras inacabadas às peças literárias que para o escritor seria o equivalente a livros impossíveis. Do mesmo modo, quando estamos perante estas “Superfícies Não-Observáveis”, temos uma sensação maior de uma construção em movimento que nos ultrapassa, algo que nos remete para um projeto que é, pela sua natureza, infinito;
Digo que em primeiro lugar ocorrem no nosso espírito os simulacros
de movimento e percutem o espírito
porque ser acabado, implica a morte, o fim no tempo, e o mesmo acontece quando somos confrontados com o óbvio, o evidente, o fechado, o que não sobrevive. Quantas versões existem da fachada de um edifício, de uma janela, porta, pavimento, chão, peça de roupa, pedaço de couro, muro...? (Mariana Maia Rocha); quantas maneiras existem de reproduzir o mesmo objecto, numa clara alusão à produção em cadeia, cópia de cópia que determina as imagens do nosso mundo digital? Na pintura, clara, simples, aérea, quase branca, há uma mão, um gesto que se expande e desmultiplica em sucessivas versões de si mesmo, através de uma luz branca que se desenvolve enquanto espasmos do branco (Igor Gonçalves). Quantas versões da mesma história encontramos num conjunto de peças escultóricas que nos remetem para fragmentações, rarefações, deformações, estranhas mistura de corpo e restos que poderão ser objetos de um culto, em estranhas configurações cerimoniais, rituais xamânicos, na fronteira do animismo, humano, extático...? (João Melo). As imagens em movimento situam-nos em espaços inabitados, fechados, profundos, infinitos, intermináveis: buracos que nos clausuram e que, de certa forma, transmitem uma ideia de eternidade. Por esses espaços flutuam corpos, imersos numa atmosfera ou vogando por um ecossistema que também pode ser líquido, como por exemplo um torso urgente na procura de uma saída que se torna impossível encontrar; ou então um espectro escultórico descomposto cuja luz irradiada do seu interior lhe dá forma; ou, no limite, um corpo antropomórfico quase humano que deixa passar pelas suas pequenas aberturas uma luz fabricada, fria e difusa que permite a visão através de pequenas fissuras e brechas abertas muitas outras coisas (Diogo Martins).
Quando mostramos uma imagem, estamos a dotá-la de significados; estamos a introduzir novas categorias de coisas que são nossas: sempre circunstanciais; sempre ocasionais, sempre pessoais. Quando avançamos nessa viagem fazemos novas formalizações e encontramos o vazio, mais predisposto a surpreender-nos ou a ser sugado pelo que é, num ambiente despojado e contido (Igor Gonçalves). Este vazio formas abismos, espaços indefinidos que nos atraem e nos espantam (Diogo Martins); e, porém, neste espanto subsistem vestígios de imagens, sussurradas pelos desenhos de fachadas, pavimentos, portas, janelas ou simples pedaços de couro ou vidro, na variedade de imagens nos objetos acumulados e trabalhados (Mariana Maia Rocha) – obras que nos atiram para reminiscências, recordações, memórias, referências de um passado sempre presente, embora sempre ausente. A imagem deixa de ser explicativa para passar a ser descritiva; e quando se torna descritiva, perde necessariamente energia simbólica e transformam-se em meros expedientes de interpretação que na verdade pouco dizem aos outros que estão de fora perante os mundos interiores individuais, coletivos, sociais, naturais ou cosmológicos (João Melo).
E do mesmo modo os restantes interesses e artes parecem
Apoderar-se enganosamente dos homens em sonhos dos espíritos dos homens.
Diogo Martins atira-nos para ambientes fechados, pontos de enclausuramento, caminhos subterrâneos, percursos reticulares, organizados ou desorganizados em espaços sem saída, um mundo em criação e expansão que denota profundidade e intensidade labiríntica; Igor Gonçalves leva-nos para sensações de vazio, exercícios de contenção, formas de despojamento, abordagens reunidas em sucessivas ondas de silêncio e luz; João Melo confronta-nos com ritualizações de magias obscuras e sincréticas, através de associações e disposições entre objetos e símbolos que também podem ser apetrechos de um estranho ritual, uma forma de magia que desconhecemos em absoluto, mas que apenas podemos intuir; Mariana Maia Rocha oferece-nos reverberações espaciais e temporais em ressonâncias, ecos, vibrações visuais de diversas superfícies e momentos, desenvolvidos em espectros que chegam até nós como memórias e revisitações do presente, passado e futuro. Assim, enquanto, Igor é vazio; Mariana é cinzento; João, cores; Diogo, movimento; e todos levam o espectador a realizar percursos e a reorientar olhares que pousam sobre peças, refazendo imagens que nos dão sinais, mais sinais do que palavras.
Sem dúvida de que os simulacros estão cheios de arte e se movem com sabedoria,
de modo a serem capazes de dar espectáculo durante a noite.
Neste processo de produzir uma explicação consistente para a arte estão sempre a surgir do nada, como dissemos acima, novos sinais, novos dados, ou novas situações que funcionam como provocações. Estes surgem-nos como saídas enganadoras de um caminho que, na verdade, não existe porque preferimos de ser confrontados com espaços sem continuidade, sem profundidade, onde nos perdemos num círculo de esquecimento, absorvidos por uma irrealidade sem uma determinação rigorosa objetiva.
e nós próprios nos induzimos no erro de ilusão.
Se escrevemos é porque precisamos de reiterar; necessitamos de recuperar o que observamos enquanto processo último de aperfeiçoamento do olhar; precisamos de insistir, mesmo correndo riscos de nos repetirmos. E quantas vezes das nossas ideias surgem diversos nadas, nadas que são inícios e que parecem começos prometedores de entendimento. No entanto, no final, tudo permanece inacabado:
Isto quer dizer que nos situamos entre o que é completo, fixado, esgotado, acabado, definitivo, e o que se manifesta de modo inacabado e impossível de explicar. Esta exploração de contrários obriga-nos a pensar que estamos sempre a voltar a um começo; não necessariamente o dos assuntos tratados, mas o das coisas que hão de vir.
.