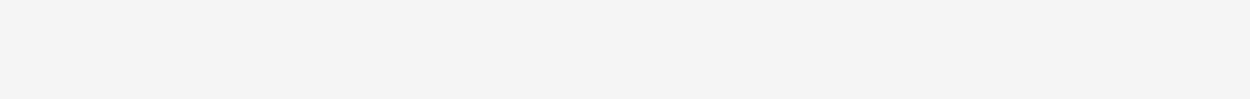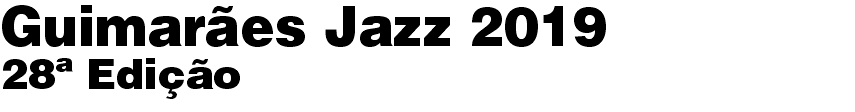AUTOR: IVO MARTINS
EDIÇÃO: Guimarães Jazz 2019 - Câmara Municipal de Guimarães/ Associação Cultural Convívio/ A Oficina DATA: Novembro de 2019
A música deve ser entendida como documento do tempo, um palimpsesto sonoro que se redige permanentemente, na tentativa de procurar captar um sentido redentor para a existência. Redimir o falhanço humano sempre foi o grande propósito da arte, que procurava entender as causas de tantas manifestações excessivas e cruéis. Os artistas denunciavam, através de inúmeros processos criativos radicais, quer na forma, quer na diversidade, a sociedade do seu tempo.
A história vista como um todo representa uma construção unificada, cheia de pontos comuns, ligações no tempo e no espaço, interpretações, narrativas, testemunhos, opiniões, críticas, textos, ensaios... Percecionar de forma global uma música como o jazz através apenas da audição de discos é impossível. A música gravada, sendo um documento histórico, é sempre um testemunho fragmentado, um espaço mediado de comunicação, lacunar e imperfeito; em qualquer música gravada há sempre informação deteriorada: atos, vontades, desejos, intenções, soluções, pesquisas, experiências, fracassos, erros, acasos perdidos, insuscetíveis de serem integralmente reconstituídos. Num tema de jazz gravado sobra sempre um espaço intransponível, uma informação fracionada, inscrita na narrativa de diversas histórias que, associadas à gravação, se perderam para sempre. Por isso se diz que é fácil reescrevê-las; a distância dos factos facilita essa tarefa, porque pressupõe a aleatoriedade dos discursos, das interpretações subjetivas e das formas pessoais de escutar.
A evolução da palavra “jazz” é um sintoma evidente da dificuldade de se entender as suas origens, na medida em que dá a conhecer problemas, questões, conflitos, ambivalências, embates, antagonismos, contradições e irregularidades. Com o passar dos anos, e através das suas alterações, o jazz evoluiu em processos linguísticos e semânticos. Será sequer possível desenhar um mapa sonoro, em permanente transformação, refletido numa imagem sugestiva e transbordante, cuja dimensão suscita um processo infinito de investigação quase arqueológica?
As modificações do termo “jazz” devem ser entendidas como avisos à navegação, camadas sobrepostas vindas de diversas épocas, que interagem num todo inapreensível. A sua instabilidade reflete as inúmeras contradições do século XX, um espaço existencial problemático, com inúmeras partes obscuras, de difícil compreensão. São estes buracos negros sem solução de continuidade que ainda hoje continuam a reproduzir narrativas divergentes e ressonantes no drama coletivo da criação artística.
Nos primeiros tempos do jazz, o improvisador estava inserido numa forte dinâmica de grupo e essa energia coletiva absorvia o seu talento. O músico contribuía para uma sonoridade superior, o som do conjunto, prescindindo da sua individualidade criativa, enquanto voz pessoal e ativa na música improvisada. Ultrapassada esta fase inicial, o improvisador transformou-se gradualmente em solista, numa entidade criativa que assume como devir da sua sensibilidade, num ato “estético de empatia” em relação ao passado; esta relação representa o elemento fundador de um estilo. Assim, ele descobriu e expôs um fraseado que lhe era próprio, percecionado como marca individual, que dantes não existia. A identidade do improvisador é pois, um elemento tardio que caracteriza a mudança, sugerida e verificável nos estilos mais recentes. A partir de certa altura, os músicos necessitavam de adquirir um espaço individual de exploração, desenvolvendo a sua criatividade e talento e olhando os mais antigos como modelo ideal. Neste contexto, cada sonoridade pessoal descoberta é uma assinatura musical inconfundível.
Joseph Brodsky escreveu que “a arte não é uma existência melhor, mas uma existência alternativa”; que “não é uma tentativa de escapar da realidade, mas o oposto, uma tentativa de animá-la”. Os músicos de jazz representam claramente esta ideia, pois sempre foram adversários e competidores excecionais e sempre competiram entre si pela sua singularidade, por vezes afastados dos mecanismos devoradores de mercado que tudo fizeram para tutelar a sua atividade. Simultaneamente tiveram de enfrentar a feroz concorrência de outras músicas, dos seus artistas e expressões e também do poder empresarial, mas apesar de tudo souberam sobreviver num reduzido espaço de intervenção, rodeados de concorrência e de agentes que tentavam fazer prevalecer as suas prerrogativas.
Quando tudo no jazz parecia estabilizado e até esgotado nas suas formas locais, a globalização colocou tudo em movimento. As pessoas são hoje obrigadas a acompanhar o fenómeno da mobilidade; quem ficar imóvel definhará, face a uma corrente imparável de mudança, impossível de travar nos seus efeitos.
Atualmente, as pessoas, não conseguem encontrar um pequeno ponto de apoio no presente, devido às experiências declaradamente monótonas, volúveis, disformes, fragmentadas em pequenos e rápidos episódios do dia-a-dia, tendo perdido a coragem para se apoiarem no futuro. Elas dificilmente irão considerar o futuro impenetrável e caprichoso, um cofre sólido e suficientemente durável para preservar os salvo-condutos de estatuto; o estado de precariedade torna todo o futuro incerto, proibindo assim qualquer previsão racional e desautorizando o mínimo de esperança no futuro, necessário para que o indivíduo se possa rebelar.
O relativismo da verdade também chegou ao universo da música, através do desdobramento e especialização de outros géneros musicais, com fórmulas musicais mais recentes, mais moldadas e adaptadas às características do mundo virtual, ao direto e à grande mobilidade das pessoas. As imagens e os sons propagam-se e fundem-se facilmente em sucessivas, montagens, em ordenações instantâneas, em sequências mecânicas e disposições atraentes, nunca constituindo um todo sonoro seguro e consolidado.
O mundo da arte atual, volúvel e incerto, está sujeito a permanentes mudanças e mutações e isso serve e alimenta o sistema em vigor. Hannah Arendt afirma que o objeto cultural depende da duração da sua permanência, isto é, da sua durabilidade enquanto objeto capaz de atrair a atenção. Hoje, tudo se confunde: os objetos culturais e não culturais, produzidos intensivamente, são tratados de forma igual, segundo lógicas utilitárias e funcionais de curta duração. Há em tudo o que se produz uma estranha marca de urgência, como se houvesse sérias e múltiplas necessidades para satisfazer.
O aparecimento do “Napster”, um programa inovador de utilização acessível, flexível e fácil de manusear, viria a abalar o tradicional modelo de gestão comercial desenvolvido pelas grandes marcas. Este programa veio a revelar-se uma brilhante descoberta, no que de imprevisto e de original apresentava; um dispositivo informático que tanto extraía como armazenava música, de modo simples e efetivo, colocando-a a circular em seguida numa imensa rede de utilizadores; tudo acontecia de maneira gratuita, através do uso de ficheiros digitais que reproduziam álbuns com uma qualidade sonora aceitável. Esta solução engenhosa, inventada em 1999 por Shawn Fanning e Sean Parker, dois jovens sem formação universitária, alterou o paradigma da invenção, assim como revelou a dificuldade da aplicação dos direitos de autor em ambiente internet.
Quando se fala de um acontecimento como o “Napster”, é necessário distingui-lo das pequenas ocorrências que o compõem. Na verdade, um acontecimento só se define retrospetivamente, através das suas consequências. Não havendo antecedentes que ajudem a entender a grandeza e as implicações do fenómeno, torna-se impossível prever o futuro. Com o “Napster” sucedeu isto mesmo: pressente-se a existência de fidelidade a uma ideia de alguém que, trabalhando isoladamente, rompe com o curso normal das ocorrências. A realidade da época apontava para um mercado bem mais rígido e previsível que, seguindo a sua inércia, se encontrava mergulhado numa rotina entediante e lucrativa, própria de quem está apenas focado nos rituais do negócio. A fragilidade e a pouca versatilidade do mercado da música ficaram, de um dia para o outro, expostas por um programa que, escapando aos protocolos de funcionamento e às centralidades burocráticas, tinha posto a descoberto novas e diferentes questões legais. A vulgarização da internet e a ampliação do seu espaço de intervenção, colocarão no futuro sérios problemas sobre o controlo da circulação da música e respetivos direitos de autor; através do “Napster” percebeu-se o potencial do universo cibernético.
O efeito “Napster” tornou-se um exemplo de igualitarismo e cooperação que abalaram o sistema; ultrapassado o seu impacto, e apesar das pessoas terem voltado à sua normalidade quotidiana, depois de passada a fase mais exaltante da energia extática, muita coisa tinha acontecido de imprevisto, tendo deixado marcas para serem retomadas. A cada crise estrutural, segue-se uma ressaca, mas nada ficará como antes.
Em cada atentado contra a ordem estabelecida, defendido pelas empresas discográficas, há um “ato” de contrapoder, traduzido no facto de alguém anonimamente fazer, de forma simples e direta, a tarefa que a todos competia, não fossem as dificuldades artificiais impostas pelos mecanismos do sistema. A pulsão burocrática cria dificuldades e inventa obstáculos constantemente renovados que impedem o acesso dos que desejam trabalhar de forma desinteressada; quem desenvolve uma postura independente e autónoma, algo distanciada da lógica de mercado, sujeita-se a um choque traumático com a burocracia. Este embate é seguido por um gozo evanescente, baseado na negação só cumprida parcialmente porque depois de se ter esgotado o seu efeito libertador, tudo volta ao normal: enfrentar o sistema pressupõe aceitar o regresso à normalidade quotidiana.
Segundo Michel Foucault, a pessoa transforma-se numa verdadeira obra de arte através da sua reinvenção, criando novos estilos de vida. Neste sentido, o confronto entre utilizadores e criadores legalmente enquadrados, e outros, marginais ao sistema, é um problema, bem mais vasto do que parece. Será que a cultura pode sobreviver à degradação, declínio e perda da eternidade?
Thomas Metzinger apresenta uma ideia interessante de transparência que se define de maneira inversa às geralmente apresentadas pelos meios de comunicação sociais; para ele, num “qualquer estado fenomenal, o grau de transparência é inversamente proporcional ao grau introspetivo da disponibilidade de atenção dos estágios de processamento anteriores”. As pessoas reclamam transparência e o que é verdadeiro passa a ser invisível; esta visão faz que a transparência se assuma como uma “forma especial de escuridão”, onde as pessoas não são capazes de ver determinada coisa porque ela é, precisamente, transparente.
Na internet a lógica desta ilusão é levada ao limite, pois a diferença entre objeto e sujeito confundem-se constantemente, dando a perceber que ninguém existe fora do quadro de um engano fetichista. Contudo, ninguém é inteiramente opaco para si próprio, assim como não é possível um indivíduo conhecer-se na sua totalidade, no sentido de conseguir perceber o seu próprio mecanismo generativo.
A música sobrevive agora numa estrutura reticular, mais horizontal que vertical, sem hierarquia definida pelo cânone, desencadeando ideias que se afastam ou se fundem, combinando-se entre si. O que daqui resulta são novas extensões do gosto e da sensibilidade, configurações da vontade que se estabelecem em toda à parte.
Hoje pode afirmar-se que a modernidade e a cultura, tal como a arte e a religião, falharam os seus objetivos primordiais, isto é não mudaram nada, nem construíram um novo homem. As experiências históricas ensinam que a origem do mal está no facto de se criarem dependências entre pessoas e não existirem leis abstratas, impessoais e universais fortes, para acabar com o exercício arbitrário da vontade de um sobre os demais.
O artista está confrontado com uma realidade que distorce, deforma e interfere com o seu trabalho; agir em consciência implica viver num regime contingente entre diferentes tipos de realidades, onde objetos e estilos de vida se transacionam e proliferam sem cessar. A incoerência e inconsistência, o descartável, o mutante e o híbrido, são predisposições estratégicas que denunciam uma impossibilidade de estar no exterior e no interior do sistema ou até nas suas franjas.
As pessoas vivem dentro de um mundo estranho, onde proliferam a ordem e a imposição de discursos. As obras de arte vagueiam silenciosamente nos interstícios de um sistema que se quer livre, mas tem dificuldade em sê-lo; a arte mais interessante tem dificuldade em fazer vingar o seu poder representativo. Num esforço de superação pessoal cada artista monta a sua própria história, como um circuito paralelo de informação: recusar fazer parte da estrutura cultural dominante que incentiva a desistência implica estar empenhado em criar formas de beleza não canónicas.
A música tem o dever ético de refletir as origens dos ódios que fizeram sofrer no passado povos e etnias. Os afro-americanos do princípio deste século, que inventaram o jazz, são um exemplo fundamental de compreensão, pois, enveredando por práticas culturais de pertença e identificação, souberam construir uma música. O jazz tornou-se uma lição, sendo a expressão de um modelo de vida específico, não composto de valores abstratos, mas de coisas concretas que incarnaram uma rede densa de práticas quotidianas banais.
Não basta a educação para que o mundo se mude; é preciso algo mais radical, uma espécie de distanciamento brechtiano, assente numa experiência existencial difícil, cruel, profunda através da qual seja possível redescobrir a estupidez e a arbitrariedade dos costumes e rituais. O mais importante é reconhecer o estrangeiro que há em nós, considerando o jazz a expressão dessa dimensão. Convém reconhecer o que somos e o que cada um é, à sua maneira, um bando de lunáticos excêntricos, a necessitar urgentemente de encontrar um modo de convivência tolerante entre diferentes estilos de vida. Esta constatação implica superar isolamentos de grupo e descobrir um compromisso coletivo, num longo processo de solidariedade universal, isto é, através da construção de uma causa suficientemente forte que atravesse diferentes comunidades, que é precisamente o grande mérito civilizacional do jazz.
“Os músicos do silêncio incarnam apenas a porta estreita que se abre para além das aparências. Na China dos anos trinta, a busca de Kazantzaki leva-o até um templo de Pequim, onde se assiste a um concerto silencioso. Os músicos tomam os seus lugares e ajustam os seus instrumentos. [O velho dono da casa esboça o gesto de bater as palmas, mas as mãos param antes de se tocarem. É o sinal de abertura deste espantoso concerto mudo. Os violinistas levantam os seus arcos e os flautistas levam os instrumentos aos lábios, à medida que os seus dedos se deslocam rapidamente pelos furos. Silêncio profundo... Não se ouve nada. Conforme se tratasse de um concerto que decorre ao longe, do lado das sombras, na outra margem da vida, de que, contudo, vemos músicos a tocar, num silêncio impávido]”.
Esta descrição está contida no livro “Du Mont Sinaï à l´ Île de Venus”, de N. Kazantzaki, editado em 1958: isto não é poesia, religião ou espiritismo, nem são ideias delirantes; são dimensões reais, experimentadas pelo espírito. Antes de se situarem culturalmente e conceptualmente na história de arte e da música, a escuta do silêncio da música foi durante muito tempo um dos elementos essenciais de toda a expressão musical religiosa. Hoje, por razões que se prendem com a morte de Deus, a secularização da vida, o ideário modernista e mais recentemente a influência do mercado com as suas lógicas utilitaristas e pragmáticas, a dimensão espiritual da música foi praticamente abandonada.
O silêncio é mal visto pela sociedade de consumo, pois questiona utilidades e põe em causa o vazio das respostas que servem apenas para consolidar relacionamentos fracos e supérfluos; com o ruído, o sentimento de pertença alcançado é impessoal e difuso. Estar em silêncio é sair do sistema, enveredar por uma via discreta e intimista, optando por andar nas margens, em zonas menos rápidas onde as correntes da vida são menos intensas.
A realidade formada pelo dizível transmite uma falsa transparência, onde não pode existir uma zona de segredos, isto é, um espaço de silêncio: o homem é mostrado por dentro e por fora como se fosse um boneco de vidro. Contudo, na litania da comunicação, o indizível permanece inatingível, como zona de acesso limitado.
Quem cria, ao saber que a sua obra vai ser criticada com critério, exige mais de si mesmo quando resolve apresentá-la ao público. Este contacto deveria desenrolar-se em silêncio e sem prazo; contudo, se o contexto se encontra contaminado de ruído e a cultura se mostra saturada de discursos de persuasão que pretensamente legitimam e valorizam a relação entre ato cultural e seu destinatário, essa ambição é impossível de ser concretizada.
O exílio é uma espécie de silêncio, o desconhecido. O exílio não significa apenas atravessar linhas divisórias entre países, mas também intersectar ambientes culturais diferentes, espaços que fazem crescer dentro dos exilados ou isolados novas formas de ver o mundo, dotando-os de amadurecimento e lucidez, fatores determinantes para o seu destino. Há uma vantagem estranha adquirida no sofrimento, causado pela solidão, pelo abandono, pela alienação. A exclusão, a existência desarmoniosa e desconfortável provocada por um lugar, umas vezes hostil, outras amigável, afastado das suas raízes culturais, impossibilitam o artista de se sentir em casa, apesar de estar tão próximo e distante do seu meio. O exilado, afastado da topografia memorizada das terras deixadas para trás, penetra em lógicas e significados universais.
Hoje, num mundo em rápida alteração, todos são potenciais exilados, mas as almas libertadas não precisam de ação.
Captar o mundo global é, de certo modo, ser espectador.