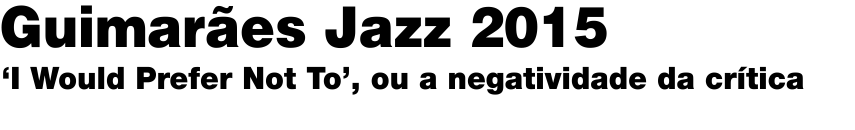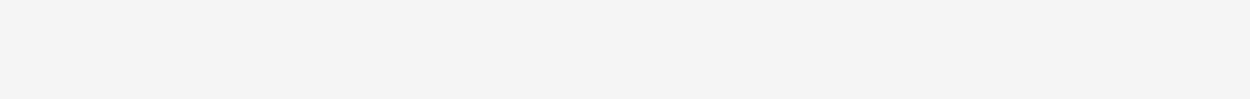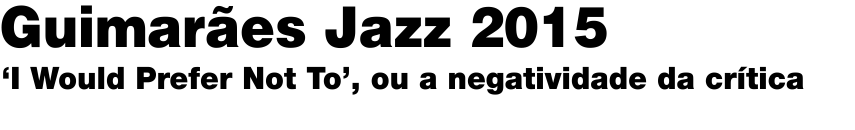AUTOR: IVO MARTINS
EDIÇÃO: Jornal Guimarães Jazz #10 - Câmara Municipal de Guimarães/ Associação Cultural Convívio/ A Oficina DATA: Novembro de 2015
I.
O jazz sempre foi olhado com desconfiança pelos poderes oficiais porque encerrava uma estranha “potência do não”. Conseguindo captar um espectro de intervenção povoado por uma negatividade fascinante, e sendo num espaço de agitação, de aglutinação de ideias, de manifestações de protesto, de pensamentos trabalhados de maneira mais ou menos espontânea, de inquietações e desconstruções que não obedeciam um plano prévio de atuação criativa nem um programa de superação artística sustentado numa convicção política ou social, esta música movia-se pela força da sua propulsão dialética num campo em autotransformação. Estes elementos distintivos formaram uma plataforma criativa sem precedentes na história da música. O jazz alimentou-se da energia provocada pelo seu próprio movimento, uma dinâmica que permitiu a descoberta de algumas das suas variáveis mais singulares, pontos cardinais e formas sonoras de representação que o individualizaram e autonomizaram face às principais tendências artísticas do século XX.
O todo musical então formado não possui uma uniformidade do ponto de vista enunciativo. No jazz tudo se contamina e se deixa contaminar em ações, gestos, ruturas, ditos, observações, recusas, fraseados, concordâncias/discordâncias, discursos, juízos, etc. Na riqueza da diversidade das suas construções sonoras havia, no entanto, uma certa continuidade de tom que escapava aos enquadramentos habituais. Muitas vezes era impossível discernir o que pertencia ou não pertencia a esta ou àquela música. A ambiguidade e a ambivalência das construções musicais, bem como a volatilidade dos temas, provocaram uma espécie de insolubilidade identitária, fazendo do jazz um problema irresolúvel. Na impossibilidade de se encontrar uma solução de enquadramento suscetível de o delimitar e estabilizar, deve optar-se por outras formas de do apreender. Em vez de se tentar situar e fixar as suas localizações problemáticas face às outras manifestações musicais, deve-se afrontá-lo provocadoramente com mais aperfeiçoamentos, virtuosismos, talento e criatividade.
II.
O jazz encontrou espontaneamente o seu grande objetivo, isto é, inventar um espaço autónomo em relação às restantes linguagens musicais similares. E fê-lo de uma forma muito original: negando-se a si mesmo. Quando um músico realiza uma determinada improvisação e implicitamente prescinde de a fixar numa escrita musical, recusando-se a cristalizá-la em partitura, executa uma espécie de haraquiri cultural. Cultivando uma morte estilística, o músico de jazz leva até às últimas consequências um velho método de atuação criativo, usando a construção em tempo real. A música nasce e morre em simultâneo. Esta espécie de fatalismo existencial permite alimentar um amplo processo de permanente reinvenção de si próprio e da sua música. Contudo, e apesar dos constrangimentos inerentes a este método, o músico, ao abalançar-se na aventura da improvisação, realiza um ato de grande humildade, porque nega de modo explícito a origem donde emana a sua própria arte. Ao prescindir da escrita musical e ao apostar na exploração estética da espontaneidade, parece que quer votar ao abandono o futuro da sua arte. Após cada improvisação há como que um retorno ao principio de todas as coisas e uma procura desse silêncio primordial, a partir do qual se geraram todos os sons. Ao deixar sempre em branco ou em aberto esse espaço de intervenção criativa, ele transfere essa falta a todos os outros artistas que lhe hão de seguir, através de um processo de ritualização. Esta manifestação de solidariedade espiritual significa que o improvisador, ao retirar-se sem deixar nada escrito, convida todos os outros músicos a preencher esse espaço de pertença comum e de partilha fraterna – e é esse o ritual do jazz. Prescinde e recusa a técnica e a escrita musical como únicos meios e ferramentas de construção criativa. Opta por procedimentos contingentes e efémeros de expressão, estabelece pontes entre o popular e o erudito, concilia interesses, defende valores, protege heranças ancestrais e anónimas, salvaguarda o património histórico.
Tal como na política, o músico, sendo manifestamente egoísta, redimiu-se graças ao jazz, porque agiu de um modo inteligente e socializado. Neste sentido, o jazz sintetiza, como nenhuma outra linguagem musical, uma forma de altruísmo, uma virtude que deveria surgir com mais assiduidade na existência humana. Apela a que se faça uma distinção entre ética e estética. A ética ligada ao amor pela procura de verdade e de beleza; a estética que, de forma intencional e consciente, transforma esse amor em praxis criativa, condensada na obra de arte. No entanto, a arte não se apresenta sob a forma de verdade efetiva, nua e imediata, sendo apenas uma aparência velada do verdadeiro. É esta aparência infundada e sem argumentação que a transforma numa sedução da verdade esgotada no seu ser. A arte é, em parte, uma mimese. Não tanto uma imitação das coisas reais que reproduz, mas dos efeitos do verdadeiro. Alain Badiou alude a uma definição platónica de arte como “a sedução de uma aparência de verdade”. Por conseguinte, convém não levar demasiado a sério o que o artista faz e ter-se a noção da necessidade de denunciar a arte como falsa verdade, isto é, uma área demasiado sensível para ser deixada indefesa perante o poder das subjetivações sem argumentos. A beleza, segundo Walter Benjamin, é uma inevitável e indissolúvel conjunção entre encobrimento e encoberto, porque “o belo não é o invólucro nem o objeto encoberto, mas o objeto no seu véu”. Tal observação significa que tudo o que for excessivamente exposto, demasiado óbvio ou ostensivo, torna-se infinitamente insignificante. Só o que se manifestar encoberto e velado pode assumir a dimensão misteriosa necessária ao fundamento divino da beleza. Não há beleza nua, porque o que se destapa deixa imediatamente de estar relacionado com o véu e o encobrimento. Segundo Benjamin, “na nudez sem véus dissipou-se o essencialmente belo e no corpo nu do homem alcançou-se um ser acima de toda a beleza, a saber: o sublime – uma obra que está acima de todas as imagens: o ser criador”. Só podem ser belas a forma ou a imagem que escondem a nudez, enquanto o sublime, sendo também nudez, mas sem forma nem imagem, já não arrasta consigo o mistério constitutivo da beleza. O sublime está para lá do belo, indicando a obra do criador; ou seja, encontra-se para lá da imaginação. A nudez significa a perda de um estado de pureza. Adão e Eva não estavam nus pois cobria-os a veste de uma graça divina que viriam a perder depois de terem pecado contra a vontade de Deus. Com efeito, toda a exibição do corpo é pornográfica e pobre, uma vez que destrói a aura sublime da criatura exibida. Desse modo, defender a beleza é aceitar e compreender o que não está exposto; o que não se revela de forma ostensiva. Neste sentido, a crítica musical tem de assumir os problemas relacionados com a beleza do objeto musical, cuja intensidade semiótica subentende a ausência uma manifestação imediata, um atraso na leitura, por uma narrativa de descoberta que se baseia num lento processo de rememoração. A escrita deve salvaguardar o seu grau de exposição, porque hoje o tratamento mediático torna os objetos por si só acintosamente pornográficos. É obscena a transparência que nada esconde.
III.
Como se pode falar ou escrever sobre o jazz sem fazê-lo de maneira persuasiva? Como será possível atenuar os efeitos desse impulso para preencher o vazio usando apenas palavras? Quando se escreve, age-se de forma persuasiva, a escrita esconde sempre uma vontade de poder, uma pulsão dominadora que lhe está implícita. Por isso, fala-se ou escreve-se para combater com ideias e com imaginação uma solidão hostil, de uma impotência face à inacessibilidade da verdade. O conhecimento é uma certa relação de conformidade, de semelhança, de adequação, entre espírito e mundo, entre sujeito e objeto. A arte é uma serenidade desértica, um espaço de contemplação localizado entre os limites da verdade e verosimilhança, pois não há conhecimento absoluto, perfeito ou infinito. Para se conhecer a totalidade das coisas, seria necessária a invenção de uma ciência acabada e uma inteligência infinita. Ambas condições não se encontram ao alcance do ser humano, mas isto não implica que não se conheça nada. Por isso, nenhum conhecimento é absolutamente verdadeiro, pois jamais conheceremos absolutamente o que é tudo, nem tudo o que é. Só conhecemos através dos sentidos, da razão e das construções teóricas e das emoções. Neste sentido, todo o conhecimento é essencialmente mediação, pois a mais pequena parcela do saber traz a marca do corpo, do espírito ou da cultura. Qualquer ideia é manifestamente humana na sua essência, logo subjetiva e limitada, não podendo representar a absoluta e permanente complexidade da realidade em que vive o indivíduo. De acordo com Simmel, “somos feitos de tal maneira que não só (...) temos necessidade de uma certa proporção de verdade e de erro como base da nossa vida, como temos também necessidade de uma certa proporção de claridade e de obscuridade na imagem dos elementos da vida”. Esta propensão para se aceitar o défice de conhecimento decorrente da genética humana salvará, porventura, o homem da inação e desespero face à grandeza da realidade objetiva e subjetiva. O real nunca poderá ser totalmente apreendido e este obstáculo tem sido suplantado através da imaginação e fantasia. “Os olhos só podem percecionar as coisas através das formas do seu conhecimento”, afirmava Montaigne, e só se poderá pensá-las, segundo Kant, através das formas do entendimento. Outro espírito pensaria de forma diferente, outros olhos mostrariam uma outra paisagem, assim como outros ouvidos, escutariam de um modo diverso. Esta contingência obriga que só se poderá percecionar ou pensar tal como as coisas se nos apresentam. Desse modo, não há uma via direta para conhecer a verdade das coisas, só sendo possível conhecê-la por intermédio da sensibilidade, da razão, dos dispositivos de observação e medição, dos conceitos e das teorias, sem qualquer contacto com o absoluto e o infinito. Estamos separados da realidade pelos mecanismos que permitem percecioná-la e compreendê-la.
IV.
Quando se escreve sobre arte ou sobre música entra-se numa cadeia global de comunicação, a qual tende a convencer o outro pelo cansaço, provocando-lhe um bloqueio reflexivo por excesso de informação positiva. Se os argumentos expostos não ajudarem a completar a ideia insinuada pela obra musical ou artística, pode-se entrar num estado de inação, de hibernação, de passividade e de inoperância, e contribuir para a gestação de um estado de violência, ignorância e brutalidade, porque se destrói a oportunidade de participação, de intervir no conjunto de pensamentos essenciais à experiência da vida e que se expandem e universalizam pela arte. Segundo Badiou, o “pensamento é aquilo porque e em que existem, simultaneamente, as configurações visíveis da humanidade e o imperativo do dizer”. Do facto de se pensar resultam palavras, e do desejo de convencer os outros das nossas convicções pela eloquência e pela proximidade exagerada resultam discursos. Estes podem deformar o campo de visão, causando uma espécie de erro de paralaxe, um corte entre o visível e o dizer, devido ao exacerbamento do eu. Demasiado ego pode levar à incapacidade de ver. Verifica-se aqui uma inversão lógica dos termos, pois o impulso da palavra que deveria ser dirigida para a frente, ou seja para o futuro, termina numa contaminação alienante, voltada defensivamente para trás, numa deambulação obsessiva sobre o momento presente. Todo o pensamento contemporâneo sobre arte está repleto de pesquisa histórica e, no entanto, esse trabalho não é um vetor determinante para se desencadear uma crítica assertiva. Uma qualquer apreciação deveria conter uma medida temporal equilibrada entre passado, presente e futuro. Nesta estruturação temporal, cada individuo transforma-se num posto de observação intuitivo, num radar cognitivo e emocional que capta o pensamento de configuração artística, isto é, ver-se e ser visto pelos outros. Para se fazer acreditar é preciso ser credível. Há pessoas que para acreditarem numa ideia necessitam de estar de acordo com os princípios e valores por detrás dela; outras não sentem essa necessidade, porque estão de acordo por obediência. As primeiras têm liberdade de espírito, mas não são disciplináveis, as segundas têm disciplina, mas não possuem liberdade. O melhor modelo de posicionamento crítico sério é aquele que concilia estas duas formas de estar: por um lado, obedecer aos critérios de isenção e independência, competência e empenhamento na investigação da história em geral e do jazz em particular, e, pelo outro, investir incessantemente na procura de conhecimento, da beleza e da verdade, resistindo ao dogmatismo, ao sofismo e à tirania dos media.
Hoje pode colocar-se a questão de se saber se estão reunidas condições para que existam discursos críticos que se afirmem como mais do que simples opiniões. Estas são, por princípio, destituídas de consequências, pois não são tão acutilantes nem radicais como o conteúdo das obras que analisam. A sociedade onde só abundam opiniões é uma realidade daltónica porque lhe falta o colorido da negatividade, isto é, o fruto profícuo de uma dialética penetrante. As opiniões centram as suas preocupações nos seus interesses pessoais e em otimizar o que existe, deixando intacto o status quo das relações sociais e económicas prevalecentes. Porque as reações negativistas minam a comunicação, evitam-se os juízos negativos, mas uma crítica baseada apenas na opinião não é mais do que inócua.
V.
Quando se escreve, é impossível escapar à intenção de querer convencer, a uma vontade inconsciente de impor determinado ponto de vista. Imagina-se, procura-se, pressente-se, deixam-se vir à cabeça ideias, pensamentos, ilusões, fantasias e sonhos, e tem-se a expectativa que o nosso pensamento atue sobre as consciências, sobre o múltiplo amontoado de pessoas. Escrever é escolher a melhor combinação de palavras, elaborando-se elementos frásicos que melhor sirvam o objetivo de se completar a ideia, a qual está implícita na obra musical que nos propomos analisar. Fazer uma crítica musical pressupõe formular-se, no contexto presente, um conjunto de deduções que distinguem o sensível do inteligível, o belo do bem, a imagem da ideia, inscritos num determinado objeto ou acontecimento artístico. Este trabalho tem de se distanciar da escrita de índole poética, pois a natureza do poema tem muito maior conotação com o sensível do que com o racional. Por outro lado, escrever é também arriscar e deve incluir o público nesse propósito. É importante pôr de lado a noção do público como um conjunto consistente, uma substância uniforme e homogénea, constituída numa comunidade de seres estável e permanente. O público reflete a humanidade na sua própria inconsistência e na sua variedade sem fim. Quanto maior for o grau de unificação, menos necessário se torna realizar o esforço de complementar novas ideias e menos essas ideias tenderão a permanecer no tempo, como realidade eterna e universal. A crítica deve exteriorizar uma ideia de pensamento perspetivado como desígnio político, isto é, representar uma visão dirigida para a polis e orientada para a ação. Neste sentido, a crítica tem de tomar a seu cargo a defesa do risco, no qual deve assentar o posicionamento do público face à obra. A crítica não tem de se preocupar com a sua imparcialidade, porque é difícil escapar às pressões dos interesses. Deve evitar enredar-se nas mimetizações dos modos de argumentar, nas cópias dos conteúdos, na verbosidade em série, na procura de vitória contra um inimigo que poucos conseguem identificar e colocar-se ao serviço de um grupo restrito de indivíduos. Um crítico dedicado é alguém que se encontra disponível para se dar a um público, percecionado como figura de risco, pois pode ser eventualmente caprichoso e imprevisível. Não é obrigado a ser justo, sejam quais forem os incómodos que provoque.
Como já se disse, o crítico tem de vestir a pele de um público genérico, não uniforme, não comunitário, não socialmente homogéneo que deseje correr riscos, quando procura completar a ideia inscrita numa obra. Tem de desenvolver um elevado grau de pureza, quer nos meios usados na sua estruturação, quer na maneira como utiliza a linguagem, para não se reduzir aos limites da sensação. Se tal se concretizar, será possível iniciar um processo de dedução, definitivamente afastado da sofística, uma espécie de sósia discursivo de toda a atividade crítica que, por excesso de loquacidade, corrompe o núcleo fundamental onde assenta todo o seu modus operandi. Uma crítica fundadora deve correr riscos, assim como sucede com as ideias musicais expostas num concerto. A crítica que acompanha o fenómeno jazzístico deve realizar novas prospeções sobre a matéria sonora de que é composta esta música, usando todos os recursos expressivos da linguagem. Pode indicar o que ouvir e como se deve escutar. Cada um tem de realizar escolhas num contexto cada vez mais saturado de oferta musical. A crítica pode ser útil na medida em que ajuda a fazer essa escolha. Isto não significa que tenha ser absoluta nas suas indicações, validando um conjunto de obras ou de autores considerados únicos e legítimos pela tradição e excluindo os restantes. O crítico, respeitando o conhecimento do erudito e as convicções do idealista, tem de escolher. Esta tarefa é o que o distingue do trabalho dos historiadores ou investigadores. Fazer crítica é um sinal de presença do pensamento. Pairando sobre o murmúrio coletivo da audiência, que tende a desaparecer no silêncio pós-concerto ou depois da audição discográfica, o trabalho do crítico sonda os horizontes dessas experiencias criativas, preparando as condições para o seu reconhecimento futuro. Criticar é também um programa reflexivo, uma corajosa antecipação sobre o valor da obra, assente na força de uma ideia criada pelo impacto do ato musical nas consciências e nas emoções do público. O crítico deve manter abertas as linhas de contacto entre as diversas formas musicais, alargando e reorganizando o mapeamento prévio da sensibilidade que determinou essa música. O seu poder fixa-se precisamente naquilo que não se pode nomear, quer pela afinidade quer por meio do alcance do exemplo.
VI.
Por mais neutro que se queira ser, toda a escrita está contaminada pela presença do eu, sendo criada pela mão de alguém que se particulariza numa maneira de ver e posteriormente a transcreve segundo o seu ponto de vista. Nesse ponto de vista, o sujeito translitera-se, transformando-se em palavra escrita. A crítica é pois, um registo da convocação de um lugar, onde porventura aconteceu um concerto ou onde determinado instante ficou registado na memória de um sujeito. Centrada no desvanecimento do acontecimento, a crítica também é memória que se encontra sob o signo de um nome. A escrita representa um campo de identificação peculiar, traduzido na idiossincrasia do autor, nos seus problemas interiores, paixões arrebatadoras, defeitos ou virtudes, limitações e dos conhecimentos que se misturam e interagem entre si. Só o que pode suscitar a fixação de um nome pode constituir-se memória. A multiplicidade de variáveis que intervêm no processo emprestam à compreensão uma dimensão subjetiva, não permitindo, e ainda bem que assim é, encontrar uma definição, uma verdade final para o pensamento elaborado. A falta de uma definição precisa e definitiva, suscetível de integrar num todo unificado toda a vasta complexidade do jazz enquanto fenómeno musical, permanecerá como um insanável vazio de soluções. A impossibilidade de o reduzir a uma única fórmula transporta-o para uma escala universal, onde prolifera o múltiplo, o contingente e o não totalizável. Num mundo cheio de uma multiplicidade de singularidades, a escrita aí produzida tem de se destinar obrigatoriamente a toda a gente, porque se sabe ser impossível encontrar um modelo exato e único capaz de definir esta música. A beleza e verdade desta música assentam no misterioso destino de ter de possuir uma carga enigmática, um sentido obscuro aprisionado no seu próprio movimento e na sua própria conceção. No jazz o que se produzem são ideias musicais efémeras, contingentes, aleatórias, fortuitas, que, eclipsando o autor e o objeto sonoro criado, relevam a sua grandeza universal. Este trabalho de fazer música tocando não é mais do que um lance de pensamento, tornando a atividade crítica uma tarefa impossível de ser plenamente acabada. A polissemia das palavras, ou melhor, da pluralidade dos referentes estéticos num contexto repleto sons e de discursos, imprime ao jazz uma dimensão universal, a utopia de um espaço inteligível partilhada por todos. Uma definição vale pelo que vale e nada mais além disso; a arte é um pensamento cujas obras indiciam a presença do real, e esse real não é uma coleção de objetos. Muitas vezes, a crítica é uma confissão de um ser que expõe as suas insuficiências, as limitações, o seu problema de ter de pensar, a sua maneira de viver num mundo onde cada um é senhor do seu próprio vocabulário. Vale a importância atribuída ao testemunho, uma disposição de saberes cuja disposição permita à verdade de cada ideia, isto é, um pensamento sobre um outro pensamento, encontrar aí um lugar. A crítica como testemunho é um sinal dirigido a todas as pessoas, uma síntese aproximativa da verdade, ao serviço do sentido universal de liberdade que não diferencia os indivíduos.
Quando se escreve, é impossível evitarem-se desvios e deturpações nas interpretações, porque nunca há uma pureza absoluta nas ideias. No entanto, pode haver uma referência estável, um ponto fixo, algo que permita distinguir a seriedade da demagogia das dissensões ou da argumentação comprometida acerca de um qualquer assunto, muitas vezes ao serviço de interesses técnicos ou comerciais. Quem escreve sobre uma obra musical tem de querer deixar-se tocar por uma verdade que passa através da obra musical, como um murmurar indiscernível - uma verdade inscrita na variedade de idiomas que compõem o domínio transcultural do jazz.
VII.
Existem três tipos de juízos que encarnam outras tantas atitudes face à obra musical. Segundo Badiou o primeiro é o “juízo indistinto”. Trata-se de uma ajuizamento que tem como principais tópicos “agradar” ou “não entusiasmar”. Neste sentido, é necessariamente um ajuizamento frouxo e incipiente, versando apenas, sobre a qualidade das sensações produzidas no breve tempo em que o indivíduo esteve na presença da obra musical. São avaliações que não tornaram a experiência vivida de um concerto um acontecimento memorável, não sendo por isso lembrado durante a vida de quem o presenciou. Depois de terminado segue-se habitualmente uma atitude de indiferença e uma perda gradual de memória sobre tudo o que foi escutado.
Existe outra maneira de abordar um concerto ou uma obra musical, evitando usar-se o mesmo tipo simplificações avaliativas que caracterizam o “juízo indistinto”. Na apreciação elaborada estamos numa zona situada entre prazer e esquecimento, da qual se extraem os argumentos que suportam a nossa posição, não se tratando apenas de se fazer a apologia da qualidade de uma obra, mas antes de argumentar que daquela é possível extrair ou fixar alguma ideia pertinente. Neste tipo de juízo, um dos sintomas mais marcantes da mudança de registo é o aparecimento do autor como figura central do facto criticado. O músico percecionado enquanto singularidade permite que se assimile de forma distinta a obra escutada, pois vai permitir situá-la no campo específico da história do jazz, distanciando-a assim do movimento geral de opinião. Porque percebe e nomeia essa singularidade, ele consegue estabelecer ligações entre estilos e autor, entre géneros e elementos característicos apresentados na música escutada. Este tipo de juízo denomina-se “diacrítico”, e propõe-se a salvar a obra do esquecimento quando esta é exclusivamente perspetivada pela ótica do prazer. Em suma, o “juízo diacrítico” não é mais do que uma versão sofisticada ou qualificada do “juízo indistinto”, preocupando-se em apontar casos exemplificativos do jazz de qualidade. A fragilidade deste juízo reside no facto de situar as suas argumentações no contexto da história desta música, uma vez que o uso da componente histórica como orientação avalizadora não fornece por si só uma chave de interpretação e análise, nem projeta uma configuração artística.
Finalmente há ainda uma terceira via, a mais esclarecida, para se interpretar e ajuizar uma obra musical: o “juízo axiomático”. Este preocupa-se em saber os efeitos de uma determinada obra ou acontecimento musical para o pensamento. No fundo, significa que o recetor deseja conhecer o modo como a ideia subjacente a uma certa obra ou improvisação foi tratada, e está também interessado em compreender as suas alterações e consequências formais relativamente às congéneres presentes e passadas. Julgar é, assim, analisar e avaliar as dinâmicas, os cortes estéticos e epistemológicos, o tratamento dos diversos planos, rítmico, harmónico e composicional, os particularismos de índole local face à perspetiva aberta e global, o colorido ou o monocromático, uma aparelhagem de timbres, a amplitude da paleta sonora, o som geral, os elementos corpóreos que influenciam as sonoridades, a respiração, o silêncio...
VIII.
No livro “O Mestre Ignorante”, Jacques Rancière faz uma interessante reflexão sobre um professor da Universidade de Dijon, Josephe Jacotot que, sendo francês e exilado nos Países Baixos, viu-se na contingência de ter de dar aulas sem conhecer uma palavra em holandês. Quando todos os condicionalismos pareciam apontar para uma dificuldade insolúvel, o que aconteceu prova que não existirem limites quanto ao “dom da escuta” e da “comunidade capaz de escutar” e que estes são mais poderosos do que as barreiras linguísticas. Sem programa escolar objetivo e perante a necessidade urgente de ensinar e aprender, professor e alunos estavam suficientemente libertos das suas obrigações e descontraídos para, em regime de colaboração, acharem uma fórmula eficaz de entendimento. Sob a frenética necessidade de se ter de dar respostas, o novo nunca sucede. O que ocorre são repetições e abreviações do que já existe. Sem a tensão provocada pela obrigatoriedade de se produzir, houve, no caso descrito por Rancière, tempo e empenhamento para um processo de aprendizagem e de ensino distinto. Todos conseguiram solucionar de maneira brilhante o que parecia ser um obstáculo linguístico inultrapassável, pois ambas as partes desconheciam as respetivas línguas nativas: francês e holandês. Para o efeito foi necessário encontrar entre duas realidades linguísticas distintas um “elo mínimo” de ligação que funcionasse como objeto comum. Uma publicação bilingue de Telémaco foi a base para uma comunicação e aprendizagem invulgar.
A singularidade desta experiência assentou apenas numa desaceleração do andar, relativamente ao nível de velocidade que determina a progressão de todas as coisas. O abaixamento do ritmo permite prestar uma maior atenção ao que nos rodeia e aprofundar contemplativamente o que escuta. Esta forma de estar encontra-se no lado contrário da sociedade atual, formada por egos hiperativos e intolerantes para com tudo o que apele à lentidão. Sem uma desaceleração, sem uma desatenção intencional sobre os estímulos, as solicitações, as informações e as obrigações, todos andarão nervosos e agitados na torrente das atividades diárias. Alcançar uma dimensão contemplativa da aprendizagem salvou aquele professor e alunos de cair na repetição de percurso.
IX.
O problema que está subjacente a todas as manifestações culturais é o da pressão do tempo e do imediato. A sociedade de consumo altamente concorrencial incentiva e estimula a realização constante de escolhas. Cada decisão efetuada num contexto saturado de ofertas de objetos consumíveis, onde se incluem as obras de arte, faz acreditar que quem seleciona realiza uma avaliação preliminar sobre a coisa adquirida. Na verdade, as pessoas são induzidas para uma passividade elementar e simplificada, fazendo acreditar que o homem atuante compensa com a sua falsa efetividade a grave perda de capacidade contemplativa. A ociosidade intelectual da grande maioria dos indivíduos fez com que o jornalismo cultural tivesse enveredado por critérios mundanos e limitar a sua ação ao mero aconselhamento e recomendação. O que se pretende atingir, com uma maior eficácia e no mais breve espaço de tempo, é um vasto número de pessoas. As narrativas, os textos, os artigos e as críticas são atos efémeros de apreciação, simplificações que não podem reivindicar nem a legitimidade nem a dignidade das obras apreciadas. Face a esta realidade, vem a propósito lembrar as palavras de Steiner, quando afirma que “seria quase cruel pormos em contraste a riqueza comunicativa da música com as estéreis agitações do verbo (...) e as tentativas que visam verbalizá-la dão origem a metáforas impotentes”.
X.
Hoje, tudo tende a ser uniforme e alisado. A escrita sobre uma obra musical só adquire vitalidade e interesse quando cria algo de novo sobre a modo como se realizam as apreensões, arrastando as pessoas voltando para novas experiências da vida, através do sentido do texto escrito. A cultura do secundário, com a manifesta e subsequente desvalorização da interioridade, tem provocado o aparecimento de uma crítica de carácter jornalística, na qual predomina o artigo tagarela, exposta numa interminável galeria de ecos lamurientos e comentários intermináveis sobre o mesmo comentário – pirâmides de juízos e paráfrases. Técnicas de comentário mediático, elas próprias cada vez mais padronizadas e “científicas”, em harmonia com o clima geral da vida globalizada e transparente das sociedades atuais, são hoje aplicadas indistintamente tanto para o antigo como para o moderno, tanto para o tradicional como para o transitório.
Criticar não é uma ciência, nem mesmo um conhecimento, como também não é um saber. Pode-se dizer que a atividade crítica é uma espécie de reflexão que usa como recursos diversos saberes disponíveis, produzindo discursos de discursos, derivas, uma possibilidade de escapar à corrida alienada para o entretenimento. Nalguns casos, servem como caução de obras incompreendidas, marginais, independentes ou radicais, preenchendo o vácuo político aberto pela chamada insubordinação dos autores face a critérios considerados mundanos. Quando isto acontece, os meios de comunicação permitem ao autor declarar a sua presença num mundo aparentemente indiferente ou até mesmo hostil ao seu trabalho.
Quando se fazem discursos de apreciação, favoráveis ou desfavoráveis, penetra-se no domínio da ficção. Contam-se histórias sobre o trabalho dos músicos, analisa-se os elementos particulares de determinadas obras e enunciam-se os seus traços distintivos, visando explicar e tornar acessível pormenores essenciais de diferenciação e identificação da música escutada. No mundo contemporâneo da comunicação planetária, da internet, da informação, da sobre-exposição, muitas das apresentações realizadas, quer sejam ao vivo, quer registadas e posteriormente comercializadas, são acompanhadas por extensos e pequenos textos repletos de juízos, apreciações, críticas e, nalguns casos, louvações valorativas sobre o curriculum e a carreira dos músicos. Esta linguagem de carácter propagandística não tem, em si mesma, qualquer tipo construção reflexiva, sendo pobre e repetitiva nas narrativas elaboradas. Servem, no entanto, como tópicos de orientação para um público que, desconhecendo o significado do fenómeno jazzístico, precisa na sua grande maioria de informações úteis sobre os músicos, as obras, as tendências, estilos, elementos identificativos e enquadramentos artísticos das obras publicados ou tocadas em palco. Contudo, estas argumentações ou narrativas produzidas não podem ser avaliadas de maneira rigorosa quanto à sua verdade ou falsidade. Sofrem de uma insuficiência insolúvel que, levada ao limite nas suas consequências práticas, pode ser vista como negação da componente universalista da reflexão enquanto traço distintivo da praxis de uma crítica eticamente impoluta. Ao enveredarem por uma escrita de carácter propagandística e parcial, há uma permissividade ilimitada quanto às afirmações possíveis e por conseguinte sobre qualquer comentário ou explicação.
Não se encontra nesta prática declaradamente assumida em muitos meios de comunicação qualquer propósito de contradição ou problematização, e tudo o que é apenas positivo é desprovido de tensão vivificante. Uma sociedade positivada, onde as contradições são aplainadas pelos impulsos desinibidos do eu e pela busca obsessiva de rendimento, reduz-se a um contexto desvitalizado onde prevalece a preocupação de se sobreviver corretamente, de acordo com as condições de uma vida sem vivacidade. O negativo transporta um elemento de contraditório que é essencial à vitalidade, sendo o vivo essa força de incorporação e sustentação da discrepância e do contraditório em si mesmo.