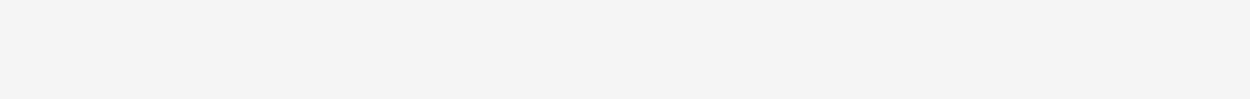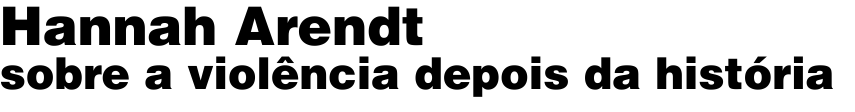AUTOR: IVO MARTINS
EDIÇÃO: Revista Op. #23 DATA: Agosto de 2007
Ao longo de toda a história da modernidade podemos verificar que se construiu uma linha divisória entre a
civilidade e a barbárie. Activou-se um espaço de ninguém, que nunca coincidiu com as fronteiras dos estados. A
violência, esse grande passatempo das sociedades contemporâneas, passou a ser um jogo de guerra privado, uma
tentativa de se sair de um regime de monotonia, repetição e determinação, no qual todas as nossas resistências
deixaram de ser atentados à ordem estabelecida.
Num contexto de inadequação das acções relativamente às formas actuais de verdade, a violência passa a ser um
subproduto de um processo industrial repleto de desperdícios produtivos. O que as organizações fabricadoras da
ordem criaram, de forma clandestina, não foi mais do que esse material coercivo de má qualidade, que não se
pode reciclar, nem transformar em substâncias úteis de redefinição ordenadora. As superfícies de sobrevivência
jamais poderão ser zonas limpas de factores imprevistos, sem o horror e a lixeira dos casos sociais que as
pequenas transgressões fomentam incessantemente, apesar de todos sabermos que nenhuma ordem consegue
ser, em absoluto, o que à partida se espera que ela seja.
O uso da força faz-se através de uma redistribuição das violências. Gerem-se amortecimentos dos impactos,
retirando a pressão dos lugares terrivelmente massacrados e incrementando novos usos legítimos de mais força,
no interior dos territórios menos desgastados. A realidade recebe hoje uma grande quantidade de nomes
diferentes dos que foram referidos por Hannah Arendt nas suas tentativas de explicar o mal, situado numa
civilização de fronteira que se expande e multiplica em desejos insaciáveis de conquista.
Muitas das palavras que vivem associadas ao fenómeno da violência praticada nas sociedades democráticas, que
temperam os actos agressivos com uma nova nomenclatura semântica, estruturam-se numa retórica mais
acéptica e mais acrítica. A legitimidade da força, o monopólio do uso, a necessidade de intervir, o respeito pelos
valores, a utilidade do controlo, são contraposições oficiais para um conjunto de momentos que se definem por
ilegítimos, indesejáveis, nocivos, gratuitos. Há sempre um discurso que tenta refazer uma distinção entre o bem e
o mal; entre a ordem construída e tudo o existe para lá dela: o errático, o imprevisível, o incontrolado, o
inesperado, o contingente, o espontâneo…
John Law observou que a modernidade deu origem a um monstro: “a esperança ou a expectativa de que, se todas
as coisas pudessem ser puras; a expectativa de que, se todas as coisas fossem puras, tudo seria melhor do que no
presente - e nós escondemos assim a realidade segundo a qual o que é melhor para alguns é quase certamente
pior para outros, o que é melhor, mais simples, mais puro para uns quantos, continua a assentar precária e
inseguramente no trabalho e, muitas vezes, na dor e na miséria dos outros”. (1)
A ambiguidade das nossas experiências reemerge numa ambivalência pós-moderna encontrada na relação do
estranho/estrangeiro, esse ser que se refaz, através dos tempos, como a sombra do nosso primeiro ímpeto
assassino. A impossibilidade de termos um rosto perante nós próprios, promete-nos graus de experiência nunca
antes experimentados, livre-acessos a uma nova aventura, ainda mais impessoal que a do desenvolvimento da
tecnologia, que retira todas as pressões morais sobre os nossos actos mais violentos. As leituras dos rostos das
pessoas - nossos objectos de violência favoritos - requerem esforços de identificação sobre o outro, como se o
outro que nos observa coincidisse no misterioso que nos intimida pelas suas feições incertas. Os esforços de
interpretação não passam de uma tentativa de atribuição de sentido, que se pode fixar nas manobras de retomar
impressões sobre alguém que se encontra, de forma humana, diante de nós. O abandono deste exercício de
comprometimento ontológico, esse empenho em se ler as outras pessoas, induz-nos, quando alienados das nossas
preocupações, momentos de medo e ódio que nos levam a graus apurados de insensibilidade de actuação perante
as formas mais evidentes de acção violenta.
As sociedades contemporâneas reestruturam-se seguindo um modelo de experimentação no vazio impessoal dos
espaços virtuais, terrenos cheios de perigos, onde os habitantes do lado podem ser os verdadeiros portadores de
terríveis ameaças. O sonho do lugar defensável, na busca de um território transparente e seguro, limpo de riscos,
que extrai a sua força predadora da necessidade de alcançar um limite sobre a nossa soberania individual ou
colectiva, reflecte-se numa imagem pacificadora de um «lar». O estranho tecnológico transforma-se num espaço
portador de uma incompatibilidade insuperável, que define linhas orientadoras de actuação, as mesmas que nos
cercam cada vez mais e mais, e nos obrigam a agredir, veementemente, tudo o que se nos revela singular e
desconhecido.
A fragmentação dos actores reproduz a fragmentação dos objectos. A divisão do trabalho em tarefas parciais faz
de cada actor um executante de um papel. Estes seres executantes são facilmente substituíveis e intercambiáveis,
porque há sempre uma distância relativa entre eles, que os assenta num posto dessa complexa rede de tarefas,
onde nada é identificável. Não existe intervalo suficientemente largo para cada um ser capaz de desenvolver uma
zona clara de autoria relativamente ao resultado final da operação, uma vez que cada actor é um executante para
uma ordem indiscutível e um emissor para outra organização indecidível. Esta conjugação de factores não
permite o aparecimento de seres completos, capazes de assumir as responsabilidades do que fazem, produzindo,
assim, objectos sem endereço e resultados abstractos nos contornos morais que se lhes poderia atribuir se fossem
questionados por verdadeiros sujeitos éticos. Prospera um magma de neutralidades éticas e morais, um conjunto
anódino de actos que sobrevivem na divisão vertical e horizontal do conjunto de operações que se fazem sempre
em encargos parciais. O seu resultado é este grupo imenso de gente inconsequente, estas pessoas que se movem
no interior das organizações onde actuam e compactuam, e que não podem lidar com os problemas da vida e da
existência como se fossem seres humanos, porque só conseguem apreender o mundo que as rodeia de acordo das
suas fragmentações e facetas, traços de duvidoso sentir humano, só estatisticamente representáveis.
A menoridade global expande-se em todas as organizações contemporâneas que extraem a sua força da quietude
dos seus elementos, da incapacidade de agir criticamente sobre eles, recriando um governo de ninguém, exposto
na diluição de responsabilidades. Todos desejam ficar livres das limitações impostas pelos sentimentos éticos,
transformando em balda carnavalesca a fantástica possibilidade dos homens e das mulheres cometerem actos
inumanos sem se sentirem minimamente inumanos; Hannah Arendt concluiu, antes de todos, que «a antiga
bestialidade espontânea dá lugar a uma destruição absolutamente fria e sistemática de corpos humanos». (2)
(1) John Law, Organizing Modernity, Blackwell Publishing, Oxford , 1994.
(2) Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, D. Quixote, Lisboa, 2007.
Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, D. Quixote, Lisboa, 2007;
Hannah Arendt, Reponsabilidade e Juízo, D. Quixote, Lisboa, 2007.