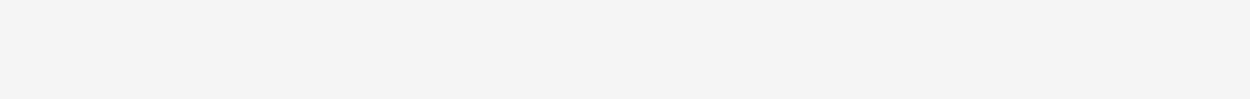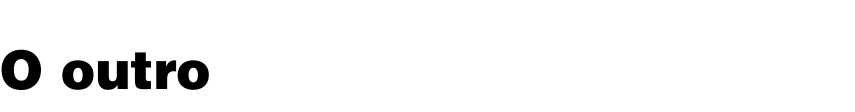AUTOR: IVO MARTINS
EDIÇÃO: Revista Acto #8/ ACT - Associação Cultural Tirsense DATA: Dezembro de 2007
Não sabemos quem, de facto, planeia esta vida, nem quem pensa sobre a sua aniquilação higienista. A natureza
parece prosseguir calmamente o caminho da total aceitação, sem destruir os espaços vitais à nossa sobrevivência.
Ao atravessarmos o lado obscuro da modernização, não precisamos tomar decisões. Tudo o que nos rodeia e
conhecemos, já nasce impregnado de um discurso justificativo que afecta cegamente cada um dos intervenientes
deste cenário que defende a força das catástrofes naturais como forma de extermínio.
As nacionalidades que acompanham os trilhos de sabores dos países e os ritos milenares do paganismo
reinventam os crepúsculos da tecnologia nos inúmeros seres mortais que vão ser dizimados. O desaparecimento
de todos os corpos equivale a novas oportunidades e novos espaços para mais um dia de longínquas e etéreas
banalidades. A mão invisível das religiões ameaça, julga e condena cada acontecimento de forma soberana e os
nossos actos serão para sempre ridicularizados. Os nossos esforços de sobrevivência assemelham-se às figuras
grotescas de um agir no vazio que sucede ao nada, quando as estrelas, durante uma noite de insónias, nos
parecem sempre estranhas e apagáveis.
Os povos litorais são os mais solares e mestiços. Todos os indígenas que se quiseram civilizar, avançaram em
direcção a um deserto. O espaço que se estendeu à sua frente tornou-os intransigentes e brutais, porque se
perderam para sempre da sua origem tribal. O esquecimento do lugar de onde partiram permitiu-lhes exporem-
se ao sol durante muito mais tempo, porque não sabiam quando é que se iriam imobilizar em definitivo. O
mesmo sol que um dia se irá pôr em nós, faz agora o lance final de um jogo colonialista na sua tarefa homicida.
Uma máquina anónima e global avança na cega caminhada planetária, num mundo a abarrotar de fugitivos. O
horror não é um produto fabricado sem sentido. Somos os únicos seres que se deixam fotografar por prazer e
também os únicos que conseguem ser homens fratricidas. Odiamos as imperfeições das imagens, mas
compramos objectos pelas suas insinuações. Desenraizados das origens e obrigados a tomar conhecimento de
tudo que afectará seriamente as nossas vidas, aceitamos o monopólio da violência, como se não tivéssemos outra
alternativa para enfrentar este estado de corrupção endémica, num sistema que aprendeu a racionalizar o lucro.
Quando nos dedicamos à organização das nossas recordações, irrompemos de um mecanismo de recuperação
teológico que nos oferece olhares fixados sobre uma vida confortável - o comodismo do paraíso que se transmite
incessantemente na nomenclatura das comunicações agressivas e rotineiras. Os modelos de perfeição assentes em
negócios e compromissos prestadores de um serviço de desafectação das emoções, arruínam cada vez mais as
sociedades e os homens.
Os negócios são vistos como corpos inorgânicos, numa natureza sujeita a doenças e parasitismo. O processo da
sua desagregação associa-se a sucessivas aplicações de capital que, para restabelecer a saúde perdida de uma
economia patológica, executa sucessivos cortes insensíveis no seu próprio corpo. O poder das ideias não se
manifesta no momento presente, optando por transmitir a beleza de uma falsa sociabilidade edificada no
consumo intensivo de objectos. Somos depósitos de sentimentos moribundos aplicados a generalizações
uniformizadoras. Assistimos ao horror que faz das palavras estruturas protectoras da falta de verdade. Falseiam-
se quantidades enormes de retórica, fabricam-se fardamentos sociais para identificar os pobres, fazem-se desses
trajes peculiares para esconder deformações, verdadeiros hologramas de uma perfeição incandescente e mortal
que denuncia o estado de simulação globalizada em que vivemos.
Quando olhamos para a miséria em que vivemos, perdemo-nos nesse momento sublime de atenção na
capacidade de ver. Ficamos a tactear nos labirintos dos enganos e adquirimos um sentido insinuado de
liberdade. A filosofia da catástrofe faz parte de uma instrumentação totalitária em que as pessoas sofrem
desolações e agruras que matam sucessivamente o seu ser maltratado. O homem civilizacional foi abandonado
pelo progresso. Primeiro foi deus que o deixou, agora é o tempo presente que o vai comer com indiferença. Se
desejamos ser iguais ao padrão médio de todas as coisas excessivas que afligem a nossa vida, para fugirmos do
peso da solidão social em que vivemos, temos de participar numa contagem final e insistente, assassinando todas
as angústias sem solução. Nas formas das simulações que adoptamos, preferimos não ver ninguém que nos cause
mal-estar. Então optamos por um isolamento técnico, rodeado de comunicações digitais, porque não queremos
ser confrontados com o olhar acusador de quem acusa em silêncio. Os seres vendidos mudam de rumo facilmente
e são incapazes de perdoar os esforços de “liberdade” dos outros, como acontece com tantos povos que foram
obrigados pela força a escrever esta palavra sempre em letra minúscula.
Temos um corpo que nos escapa. Por vezes só conseguimos localizá-lo a partir do lugar que cada um de nós
transporta e, desse mesmo lugar, advém um vazio que nos impede de fazer a nossa própria eutanásia. Insistimos
em produzir um corte terminal quando nos aparece uma dor - aquilo que nos retira prazer, agindo sobre todos os
momentos dolorosos que se confundem com má disposição e delegam para um lugar inalcançável todas as nossas
divagações imaginosas.
Os olhos atiram-se para um ponto que se perde sobre as paisagens aniquiladas das cidades. Territórios
contaminados estendidos entre nós, na selva dos obstáculos inúteis que jazem na destruição das imagens
destroçadas. Existe uma esperança para essa morte projectada, revelada agora em três dimensões. Produz-se um
novo objecto artístico icónico, constituído no impasse da intolerância liberal como se fosse uma máquina de
ilusões. Fabrica-se o medo industrial, corrigindo no consumo uma renovada sensibilidade religiosa. Repete-se a
crucificação do homem que perdeu a memória das suas dores, sobre um corpo mutilado e pendurado em coisas
impessoais. O crucifixo foi substituído por um espelho da nossa história, como se fôssemos objectos/sombras das
frustrações e dos recalcamentos da culpa que encobre as razões de cada assassinato. As pessoas arrastam-se
carregadas, acumulam montes de vontades que se projectam no tempo como ponteiros de um relógio; fazem
sinais e aspiram participar na mesma viagem circulatória à volta do seu próprio mostrador; seguem essa
numeração temporal, algarismos perdidos como se estivessem num trajecto de morte; determinam a queda
perfeita de um meteorito gigante ou o momento final de um degelo terrestre que nos afundará a todos. Como
num estado terminal em que estamos preparados para aceitar todas as catástrofes, esperamos a subida das
águas, sem contabilizar o tempo perdido, passado na descida aos infernos, que encerra este longo capítulo
civilizacional feito de equívocos. Os continentes são testemunhas de mais um novo dilúvio que imerge agora
global, enquanto ao longe, escutamos o barulho das máquinas. Essas máquinas provocam ruídos insanáveis, mas
não nos acordam do coma profundo dos sismógrafos. As memórias de todos os injustamente sentenciados
persistem ainda nessa hibernação crepuscular.
Os homens reconhecem-se nesta espiral de destruição que os acompanha desde sempre - uma tendência milenar
para a catástrofe. As mortes aceitam participar impunemente desse fenómeno de destruição massiva que anuncia
um novo culminar profético - o assumir de uma impotência divina para uma humanidade sôfrega de redenção e
incapaz de se salvar. Os ventos ciclónicos nascidos por cima de uma mola de roupa, algures no hemisfério sul,
fazem da sua vibração o rumor da tempestade e registam a vibração desse ruído no pulsar meteorológico que se
deixa apreciar no grandioso acto terapêutico contido na obra literária de Kafka - o escritor que, ao ignorar as
palavras inúteis, curou as fixações de todos os nossos males e discursou sobre a destruição das histórias que se
tornaram criminalidade e insanidade. Ainda continuamos, apesar de tudo, a existir num horizonte mortal que,
não sendo ultrapassado, nos vai transformar noutros seres. Se até aqui a morte era uma fatalidade, depois deste
momento será esquecimento. Nada é capaz de suportar diariamente as inúmeras humilhações a que se
encontram sujeitas a maior parte das pessoas e nas quais se movimentam como se estivessem na pele do seu
principal inimigo.
O homem que se move à nossa volta, sorrindo e aldrabando, tem tudo preparado para ser valorizado moral e
legalmente. O objectivo do discurso oficial é construir um espécime submisso - um ser que adora a atitude astuta
do dirigente, construída pelos políticos amorais, capazes de negarem a imagem de um príncipe universal que se
chamou “O Outro”. Conseguiu assim esconder-se melhor para não sentir o ser cobarde do pouco que há em si
próprio. Todos preferem assumir o papel do torturador ou do carrasco para não continuarem perseguidos por
ele. As personagens formatadas matam as ambivalências e as ambiguidades, sendo a guarda avançada de todos
os fundamentalismos. As pessoas empregam-se nos empreendimentos do seu totalitarismo particular, usando
técnicas de salvaguarda da sua aparência. Os símbolos oficiais inundam um mundo desfeito em negro de fumo.
Os políticos enredados em retórica tornam-se amnésicos, depois de terem conspirado e corrompido os seus
valores e depois de terem proclamado que amaram o seu povo como mais ninguém. No mesmo instante, o
banqueiro especula e negoceia habilmente com todas as oportunidades do mercado, provocando choques
frontais de valores transmudados em ficção. Todos esses homens passaram a ser pessoas ricas na hora defunta de
uma humanidade que aceita a sua civilização arruinada. O homem vendeu-se, transformou-se em produto,
assassinou com esse acto, todos os outros que queriam ser livres.
Agora temos muitas outras soluções técnicas e científicas, expostas em actos mais assépticos, capazes de ferir
todas as leis em segredo e de fazer dessas imolações do desencanto, novas fogueiras e autos de fé conspurcadores.
O sangue, líquido que serena a sua sede sanguinária, escorre e pacifica a população que não pára de clamar
vingança. As imensas maiorias circulam entre nós, lavando as mãos, participando no espectáculo mundano que a
guerra e o terrorismo revelam numa pequena parte nauseabunda, onde o reconhecimento primário de um efeito
de violência espontânea se faz codificação, sem trazer em si a possibilidade da prova de inocência. Ao fazerem
das velhas histórias da bestialidade, uma versão actualizada mais racional e impessoal, os homens explicaram à
massa amorfa das democracias pós-industriais a justificação de novos estatutos sociológicos. O indivíduo final
renasce a partir daqueles que para sempre ficaram menores, ecos perpétuos das maiorias e dependentes dos que
dirigem. Vivemos na esperança de uma impossibilidade aterradora sobre a falência da imagem simbólica do
grande “Outro”, como se fosse ainda possível continuarmos a busca de um eterno retorno, quando há muito
tempo o perdemos. Já nos encontramos parados no meio do tempo e não temos tempo para mais história.